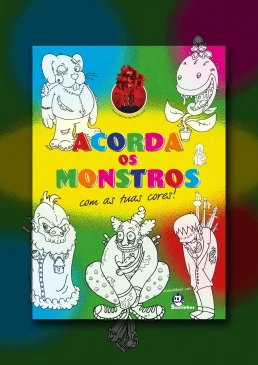A Prova
de Lara Fernandes
O frasco pulsava na palma da mão, quente como febre, como se tivesse um coração próprio. Os dedos dele fechavam-se em redor do vidro com uma força que tremia, não de medo, mas de algo mais antigo: antecipação.
Na sala, tudo era luz fria e superfícies estéreis. Os respiradores emitiam um sopro cadenciado, impessoal. Um som de máquina a fingir vida. Ali, algo se preparava para nascer.
Fez a primeira incisão. Sem hesitar. A lâmina cortou a pele artificial com a facilidade de quem já não se espanta com carne. Cada gesto vinha da memória dos dedos, não do coração. Mas algo começou a mudar. A cabeça latejava, como se cada sílaba dita lá dentro deixasse uma marca na carne. As vozes coagulavam-se, escorrendo pelas sinapses, com as frases a confundirem-se e a sobreporem-se, até serem apenas uma torrente única, indistinta:
Estás a fazer isto por ela.
Não. Estou a fazer isto por mim.
Então, és um monstro.
Talvez.
Ela não é a tua filha.
És tu, ali.
Sobre a mesa, o corpo esperava, ossos humanos, pele enxertada, circuitos escondidos. No centro, uma cavidade aberta, húmida. Ele ergueu o frasco. O líquido lá dentro não era sangue. Era mais espesso, negro, quase denso. Verteu-o sobre o peito, onde um coração não existia. Um motor a fingir pulsação.
O monitor ao lado acendeu. Uma luz. Pausa. Outra. A pálpebra moveu-se. Depois, os olhos abriram-se.
— Pai?
Ele deu um passo atrás.
O rosto, tão parecido. Os traços esculpidos com uma obsessão. A simetria. A boca. Até a cicatriz na sobrancelha. E o olhar… era igual. Era isso que o arruinava. Porque estava ali e, ao mesmo tempo, não estava. Vazio de tempo. Um olhar que imitava a alma e deixava a vida de fora.
Ela olhou em redor, com olhos que já sabiam e conheciam o espaço.
— O baloiço no jardim. Disseste que ias arranjá-lo.
O peito dele afundou-se.
— Isso… Isso era meu. Eu disse isso quando era criança.
— Sim, aos sete. E de novo, aos quarenta e dois, quando ela caiu.
Ele prendeu a respiração.
— Como é que sabes isso?
Ela sorriu, mas o sorriso quebrou, quase como um espasmo. E então disse, num tom estranho, como se as palavras fossem cartas:
— Tinhas… um coelho. Chamava-se Branco. Mas ele gritou contigo antes de morrer. Não é disso que te lembras?
Ele estremeceu, incapaz de responder. O terror vinha de uma memória distorcida. Como se a verdade estivesse ali, mas corrompida. Ela tocou no próprio ventre, depois na garganta, com uma delicadeza quase humana.
— Sou feita de tudo o que guardaste. Do que trancaste.
Ele desviou o olhar.
— Lembras-te do quarto 19? — perguntou ela.
As palavras enclausuram-se.
— Quando gritavam por ajuda — continuou ela. — Quando eram só nome, dor e eletrochoques.
As imagens não pediram licença. Cadeiras presas ao chão. Gravadores a zumbir. A lâmpada a piscar num ritmo torto. O eco do seu próprio nome, dito com medo.
Ela deu um passo, com o som seco dos pés no chão. Depois, a pele dos dedos dela começou a rasgar-se, onde o que estava dentro tentava sair. Descolava-se como pétalas podres, soltando um som húmido, pegajoso, de membranas a ceder. Debaixo do tecido, cabos entrelaçavam-se com ossos, fios pulsavam num ritmo orgânico, como músculos cardíacos. E, no meio, viu… na sua mão direita, aquele corte familiar.
Ele caiu de joelhos. As mãos tremiam, os olhos estavam húmidos, mas vazios.
— Só queria vê-la uma última vez…
— E viste.
— Mas foste tu que olhaste para mim.
Ela ajoelhou-se à frente dele. O rosto estava muito perto. O hálito dela era frio e inexistente. Os olhos trespassavam-no.
Ela sorriu. Falou como a mãe dele. Piscou os olhos como a filha morta. E, quando ele chorou, ouviu os gritos do quarto 19. Era tudo o que tinha guardado, cuspido em forma de carne nova.
— Sou a prova de que és um monstro.
Ele parou de chorar.
— Mata-me — suspirou, encostando a testa à dela.
E ficaram assim. Dois vultos. Um vivo, outro indeciso.
*
Horas depois, dois técnicos da Fundação abriram a porta com luvas, máscaras e olhos de quem já viu demasiado. O protocolo era claro: isolar, catalogar e incinerar.
Encontraram o corpo do doutor caído no chão, sem sinais de violência. O frasco estava ao lado, seco. Na parede de vidro embaciado, uma palavra escrita com dedo trémulo:
«Pai».
Não a limparam. Enquanto saíam, o mais novo parou junto à porta.
— Chefe… — O outro virou-se.
— Deixa.
A luz do teto oscilou. Num canto da sala, para onde ninguém olharia duas vezes, um reflexo moveu-se. Devagar. Simulando respiração. A prova de que monstros não morrem, apenas mudam de forma.
SOBRE A AUTORA
Lara Fernandes
Lara Fernandes nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, em 1974, uns dias antes do 25 de Abril. Três anos depois, a sua família mudou-se para Portugal, onde tem vivido desde então. Formada em Informática de Gestão, estagiou com uma bolsa em Programação e Multimédia em Coimbra, estabelecendo o início da sua carreira técnica como programadora informática de websites.
A vida de Lara é uma combinação harmoniosa de realização profissional, a paixão pela escrita, o amor pelos animais e o envolvimento familiar.
Já tem algumas publicações em várias coletâneas e revistas. É uma eterna aprendiza, movida pela curiosidade e criatividade. Com dedicação e entusiasmo, procura sempre novos desafios, explorando ideias, histórias e experiências que inspirem e conectem. O olhar atento e a mente aberta refletem o seu espírito inovador.