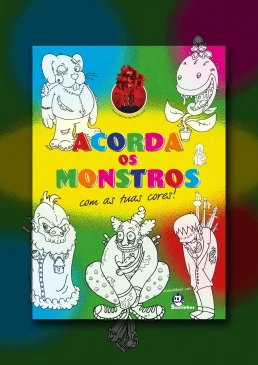Baba Yaga
De Nuno Amaral Jorge
A casa era velha e esconsa. Uma pequena vivenda, junta a um aglomerado de árvores de ramos retorcidos como uma maldição antiga. As sombras projectadas através desses ramos desenhavam figuras inquietas no chão, e o cheiro a musgo, matéria vegetal húmida e arbustos diversos tomavam conta do ambiente.
Cá fora, um cão com um focinho de dez mil rugas, mas apenas três patas, mastigava distraidamente um osso. Curiosamente, era o único elemento acolhedor naquele cenário, que anunciava uma tristeza e malícia tão antigas como a ideia de memória.
A minha mãe já não sabia o que fazer. A asma tomava conta de mim, de cada respiração, acção e reacção. Os médicos também já não sabiam mais o que fazer senão entupir-me de cortisona e, no caso dos católicos, algumas preces. Foi em desespero que a minha mãe ouviu a conversa de uma vizinha acerca de uma velha estranhíssima, que vivia numa casa meio engolida pela mata do Monsanto, e que tinha conseguido resolver alguns problemas de saúde muito complicados. A minha mãe era alérgica a charlatanices, e muitíssimo pouco dada a filiação religiosa, mas o desespero associou-se a uma curiosidade doentia, e para ela passou a valer tudo. Foi isso que nos levou ali.
O cão perneta olhou para nós. A língua pendeu, e as orelhas colaram-se ao crânio. O rabo começou a abanar numa indesmentível afabilidade. O animal estava realmente deslocado em todo aquele ambiente.
Aproximámo-nos.
A minha mãe tocou no botão da campainha.
Nada.
Campainha avariada. Pois claro que sim.
Fechou a mão e deu quatro pancadas na porta, firmes, mas educadas.
Nada.
Silêncio.
O cão ladrou e demos um pulo, apesar de ter sido um latido amigável. Eu escapei da mão da minha mãe e aproximei-me do bicho, que baixou a cabeça à espera do carinho. Não só o aceitou como me lambeu o rostro duas vezes. Era um bom menino.
A minha mãe respirou fundo e aproximou-se. Dávamos ambos festas ao cão quando a porta abriu.
Rodeada pela ombreira, estava uma mulher muito idosa. O rosto era ainda mais sulcado do que o do cão que acarinhávamos, e tinha uns olhos azuis claros como água de um fiorde. A boca parecia deformada num semi-sorriso malevolente, mas a expressão dos olhos era tão fria como a sua cor. Mais tarde, viríamos a reparar que a parte inferior das suas pernas era impossivelmente delgada, como ramos de árvore ou patas de galinha. A mulher, no entanto, movia-se com uma vitalidade estranha para uma tão aparente debilidade.
Por dentro, a casa era um pouco menos decrépita do que no exterior, mas também mais assustadora. As parcas luzes eram incapazes de afastar as sombras, que nos rodeavam como uma atmosfera pesada. Dentro destas, coisas quase invisíveis pareciam mover-se com uma rapidez impossível.
A idosa fez gesticulou, convidando-nos a sentar.
Eu sugava furiosamente na minha bomba, sentindo uma tampa a fechar no peito. O ar entrava em golfadas cada vez menos abundantes, e só o treino de muitas repetições impedia o pânico da sensação de afogamento fora de água. Era como respirar através de um tubo que se ia estreitando, até se tornar uma palhinha.
A mulher velha olhou para mim. Os olhos faiscavam com conhecimento e malevolência. Depois, fitou a minha mãe e, acercando-se dela, segredou-lhe ao ouvido. Esta arregalou os olhos em terror, e abanou a cabeça em recusa.
A idosa olhou para e mim e ordenou que me aproximasse, o que fiz a custo, já em labor árduo só para trazer o mínimo de ar aos pulmões. Tocou-me no peito e segredou-me umas palavras numa linguagem que nunca tinha ouvido ou voltaria a ouvir. Em sequência, o meu peito abriu como um dique em descarga. O ar, doce e abundante, invadiu-me os pulmões como se eu tivesse vindo à tona de água após uma longa submersão.
A minha mãe olhou para mim e percebeu o que se passava. Lacrimejou imediatamente, calculo que em descrença e alívio — tudo numa confusão tremenda. Em seguida, encarou a velha, que abanou a cabeça. O sorriso dela abriu, mostrando dentes podres ou inexistentes. Os olhos tornaram-se ainda mais difíceis de contemplar.
A idosa voltou a segredar ao ouvido da minha mãe. Lágrimas caíam em torrente. As minhas e as dela.
Com um gesto da velha, a minha respiração voltou a tornar-se tão pesada que permanecer em pé era praticamente impossível. Apenas um fio de ar entrava nos meus pulmões, e o som que me saía da boca parecia o suspiro de uma dezena de gatos.
A mulher lambeu os lábios velhos e gretados com uma língua demasiado escura para ser real. Com a mão direita, levantou uma espécie de cutelo longo ou machete. A lâmina parecia inegavelmente afiada, apesar das manchas de sangue e outras coisas que eu não sabia bem o que eram. Nem queria saber.
Com uma força inesperada, agarrou o braço esquerdo da minha mãe e estendeu-o na mesa. A língua saiu novamente da boca, como uma serpente pequena e imunda, um fio de sangue escorrendo-lhe dos lábios secos e gretados. O sorriso da velha era indefinível como o mal-estar num pesadelo, um sorriso que se alargou mais ainda quando ela ergueu o cutelo acima da cabeça e o fez descer num movimento rápido.
Lá fora, o cão latiu bem alto.
*Este texto foi redigido segundo o Acordo Ortográfico de 1945
SOBRE O AUTOR
Nuno Amaral Jorge
Nuno Amaral Jorge nasceu em Lisboa, no ano de 1974. É jurista, fotógrafo amador e escritor freelance. É guionista de BD, publicou contos em várias antologias, dois romances e dois livros infantojuvenis. Destaca títulos como os romances As Três Mortes de Um Homem Banal e A Passagem, bem como o conto «Coelho Branco», publicado na antologia IN/SANIDADE, e com o qual ganhou Grande Prémio Adamastor de Ficção Fantástica em Conto – 2024.
Stephen King, Julian Barnes, Rosa Montero, Neil Gaiman e Alan Moore são algumas das suas referências.
Vive em Carnaxide com a sua companheira, os seus três gatos, e é um feroz defensor do maximalismo da liberdade de expressão, artística ou de qualquer outra tipologia.