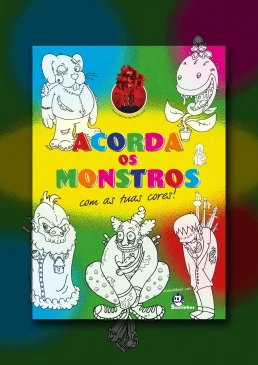Banquete
de Sónia M. Pereira
Gracinda olhou para a cadeira onde a mãe deveria estar sentada junto à mesa da sala de jantar. Uma cadeira vazia. O corpo ausente da mãe tinha, ainda assim, a capacidade de rabiscar as letras no espaço, nas partículas de oxigénio e hidrogénio, no tecido almofadado do assento, no pano axadrezado da toalha de mesa onde ela pousaria as mãos: VAZIA. V-A-Z-I-A!
Vaca estúpida,
«Amo-te» é coisa que nunca te sairia da boca,
Com zero sentimentos nesse coração salgado,
Impiedoso, insensível, imaturo, invisual (muitos Is podiam seguir-se).
Amas-me? Amo-te? Alguma vez, amaste?
Aquele delírio amoroso maternal não era evidência de qualquer sinal de culpa de Gracinda, até porque já não havia mais amo-tes possíveis. Acabara-se a espera por migalhas de afeto, por um gesto gorduroso de carinho. A mãe estava esparramada no sofá, uma baleia que dera à costa — morta — a decompor-se no areal de mantas coçadas e folhetos de supermercado coloridos.
Ainda conseguia ouvir aquela voz, um matraquear persistente, como um zumbido agudo crónico que lhe enxameava a cabeça mal rodava a chave na fechadura.
Graci, o jantar. Graci, tenho fome. Graci, porque é que estás a demorar tanto? Graci, despacha-te. Graci, olha os valores da minha glicose. Graci, mete a roupa a lavar. Graci, leva o lixo, já cheira mal. Graci, compra-me bolachas. Graci, onde é que foste? Graci, deixei cair o comando. Graci, Graci, Graci, Graci, Graci. Tenho fome!
Dias antes, Gracinda pegara numa embalagem de bolos de leite, numa embalagem de batatas fritas, num pacote de bolachas recheadas de chocolate, numa embalagem de Doritos e num frasco de creme de chocolate de barrar. Não tinha mãos suficientes para o último banquete que serviria à mãe. A televisão tagarelava animada, entrecortada na sua conversa pelos chamamentos da mãe: Graci, Graci, Graci, Graci. Um túnel de velocidade abrira-se entre a cozinha e a sala, um funil temporal e espacial que a fizera voar, carregada de calorias secas e inúteis, para cima do corpo sentado da mãe. Com Gracinda montada em cima dela.
Não havia sequer espanto nos olhos arregalados da mãe quando Gracinda começara a enfiar-lhe bolos de leite pela goela abaixo, assim como batatas fritas, Doritos, bolachas inteiras — tudo empurrado à força pela mão direita, com dedos que escarafunchavam entre a língua, os dentes e pedaços de comida, enquanto com a mão esquerda lhe segurava a cabeça, agarrando-a pelos cabelos. Queria vê-la a afogar-se naquele mar de êxtase, nos braços da gula, a única paixão sincera que a mãe professara.
Gracinda sentia o corpo da mãe estremecer debaixo de si, pela falta de ar, uma luta já perdida contra uma faringe entupida de amor. Abrira o frasco grande de creme de chocolate e enfiara a mão lá dentro, tirando uma colherada entre dedos de um último abraço de chocolate e avelãs. Untara a boca escancarada da mãe, que vazava pedaços de bolachas alaranjadas pelos aperitivos de milho. Besuntara-lhe as narinas, empurrando porções de creme para cada um dos pequenos buracos dilatados.
As mãos da mãe estavam estiradas sobre o sofá, submissas, em contemplação. Durante todo o processo, não tentaram agarrar ou sequer tocar Gracinda. A mãe entendia aquele derradeiro momento não como uma agressão, mas como um gesto de afeto de uma filha que a presenteava com o que ela mais adorava — ternura em pedaços, fatias, colheradas, dentadas; uma afeição crocante, cremosa, doce, salgada, ácida e amarga.
Gracinda beijara a mãe na testa, entre os olhos que pulavam das órbitas, partilhando com ela um pouco de creme de chocolate naquele beijo. O corpo da mãe vibrava, sacudia-se como uma máquina de lavar roupa antiga, mas no olhar já não se via o fogo da paixão. Nem sombras por lá já se aninhavam, e aquele beijo foi uma porta de saída, o abandono, a partida tardia de um festim que degenerara para o excesso.
Não havia mais mãe. E não havia mais Graci.
Nesse dia, antes de chegar a casa, viera de pé durante toda a viagem, agarrada a um varão, com dois sacos de compras pousados no chão encardido, escoltados pelas pernas hirtas. Os sacos vinham cheios de iguarias calóricas, como o pagamento exorbitante de um pedido de resgate. O condutor era inexperiente, e as paragens eram sempre antecedidas de travagens demasiado bruscas, como também o eram os inícios de marcha, em acelerações despropositadas.
Gracinda tinha nos detalhes daquela viagem uma sala de pânico possível. Os apitos das portas aquando da sua abertura, o esgar alucinado do homem de meia-idade de fato-macaco sujo, as conversas altas de quatro adolescentes, as risadas solitárias de uma mulher que venerava o telemóvel, o tossir frenético de uma criança de mochila às costas. Cada pormenor era uma fuga para um novo universo, onde a sua vida era normal, onde a sua mãe era capaz de amar.
Gracinda rodara a chave na fechadura. Nem a porta tinha aberto meia dúzia de centímetros e já do interior gemia uma voz. Uma voz do presente, que não podia ignorar recorrendo a subterfúgios mentais. Talvez só as leis da física a pudessem socorrer.
— Graci… já chegaste? Porque é que… porque é que demoraste… tanto? Trouxeste as… as compras que te pedi?
Como uma mendiga esfomeada de afeto, Gracinda decidira ali, ao ouvir a voz gemida da mãe por entre a frincha da porta, que aceitaria as migalhas daquele amor infligido.
SOBRE A AUTORA
Sónia M. Pereira
Mestre em Escrita Criativa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2024).
No universo da vida real, desenvolveu trabalho administrativo em diversas áreas, desde a da fisioterapia à da construção metálica e do comércio digital.
Pelo caminho, concluiu em 2014 o mestrado em Estudos Editorias na Universidade de Aveiro, com uma tese sobre o tema «A edição de manuais de boa conduta para mulheres durante o Estado Novo (1933-1950)».
Desempenhou funções na área de produção cinematográfica e de teatro, depois de concluir o bacharelato em Produção de Cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema (1999).