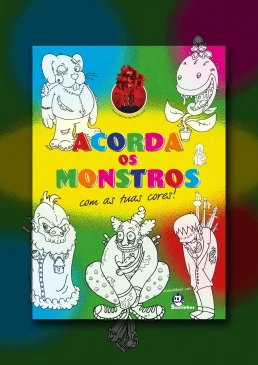Corujas no Sótão
de Célia Correia Macedo
Soube que a casa foi vendida.
Acompanhei, atentamente, o anúncio da imobiliária. Vi o preço descer… uma, duas, três vezes. E, a cada queda, desejava que ninguém cedesse à tentação de a comprar.
Enganei-me.
Mas eles não sabem o que eu sei.
A casa foi mandada construir pelos meus pais, no topo da colina, o ponto central da aldeia. Via-se lá de longe. Uma pequena fortaleza. Aos nossos olhos, as filhas pequenas, um castelo. Mas estava longe dos contos de fadas.
As noites, ali, nunca foram normais. Começou com um ruído tímido, quando toda a casa dormia. Tornou-se depois um resmalhar contínuo, insistente. Como se algo se arrastasse devagar pelas tábuas e arranhasse as paredes.
— São as corujas no sótão — diziam-me.
Sempre a mesma desculpa. A desculpa de quem não quer ouvir.
O dinheiro escasseava, e o sótão ficou anos por terminar. Durante esse tempo, era apenas uma porta para uma escada de cimento, que subia para um escuro sem fundo. De vez em quando, e sem que ninguém visse, passava por ela devagarinho, rodava a maçaneta e, com o coração aos saltos, espreitava por um segundo. Para me desafiar.
Fecha, Maria. Fecha.
Quando o sótão foi transformado em quartos, as «corujas» mudaram de lugar. Passaram a morar no meu quarto.
O ruído vinha sempre à noite. Sempre nas paredes. Sempre nos móveis. Uma gincana de pancadas secas, em círculo contínuo. No escuro. Era como se andassem a brincar lá dentro. Mas eu não queria fazer parte do jogo.
Morta de medo, tapava-me até à cabeça, até me faltar o ar.
— Mãe… batem nas paredes. Eu ouço…
— Isso não é nada.
O pôr do Sol passou a ser um aviso. Dormir era um terror. Só adormecia com o Oceano Pacífico no rádio despertador, colado ao ouvido. Era o único som que abafava os outros.
Com o tempo, as «corujas» começaram a aventurar-se durante o dia. Espalharam-se pela casa e fizeram-se ouvir também pelas minhas irmãs, mas nunca pelos meus pais. Numa das vezes, depois de os dados do Monopólio se terem lançado sozinhos sobre o tabuleiro, fugimos a gritar para a rua. Noutra, estava sozinha em casa e ouvi passos lentos sobre a tijoleira, atrás de mim. Nunca interessou o quão óbvio se tornava — ninguém acreditava. Ninguém quis acreditar.
Anos depois, saímos da aldeia. Rumámos, de malas e bagagens, para a cidade vizinha.
A nova casa era geminada. À noite, ouvia os vizinhos a andar, a falar, a rir. Ouvia vida. E, pela primeira vez, os ruídos das paredes reconfortavam-me. Nunca pensei que o som de outras pessoas me pudesse deixar tão feliz.
Hoje, adulta, recordo a história em reuniões de família, já sem medo de adormecer — mas com a mesma certeza de antes: nunca foram aves as responsáveis pelos ruídos daquela casa.
Há sempre sorrisos e risadas, como se fosse uma história engraçada.
Mas não era. Não é. O pânico do escuro nunca me abandonou.
Pobres coitados os que compraram a casa. Vão saber aquilo que eu sei. E, quando os filhos começarem a chorar, ninguém vai acreditar neles. E o que vive naquela casa… vai agradecer-lhes por isso.
SOBRE A AUTORA
Célia Correia Macedo
Célia Correia Macedo vive entre o barro e as palavras. Criativa das artes oleiras, dedica-se de corpo inteiro ao trabalho manual, mas é nas horas livres que se entrega ao imaginário sombrio do terror e do fantástico, onde a realidade dá lugar ao estranho e ao impossível. Inspirada pelos silêncios e mistérios do campo alentejano, onde vive, escreve como quem acende velas em noites de breu — por gosto, por inquietação e talvez também por pressentir que há mais histórias à espera de ganhar forma.