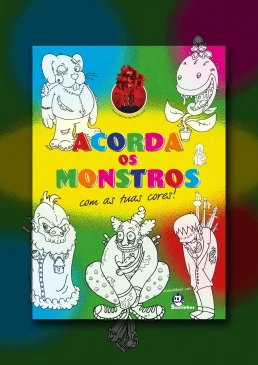Paz
de Adrien Lochon
Acordei sobressaltada de novo. O sonho é sempre o mesmo: algures na floresta, onde o verde-escuro dos pinheiros contrasta com o nevoeiro que envolve os troncos. Primeiro, há apenas silêncio, o som subtil do vento que se move sem pressa, o eco longínquo de um pássaro, interrompido por um som que não pertence ali. Um passo. E depois outro. E outro. Lentos e ritmados. Reconheço estes passos. Ouvi-os vezes sem conta, antes de ires para a guerra. Depois, nunca mais os ouvi.
Procuro-te na névoa, mas a floresta move-se, e o som dos passos torna-se mais ténue. Caminho na sua direcção, mas deixo de os ouvir. Corro até não conseguir mais, embrenhada na névoa cada vez mais espessa, e sento-me junto a uma árvore, perdida. Quando ouço de novo o som de passos, já não os reconheço. Não és tu. Não sei quem é. Não sei o que é. Uma mão toca-me no ombro nu, e acordo ofegante.
A noite pintou o quarto de escuridão, e a luz da Lua entra pela janela e abate-se sobre a manta pesada em cima da cama. Lá fora, a floresta dorme calma numa noite como qualquer outra. Cá dentro, o coração acelerado faz-me prestar atenção a todos os sons, mas nenhum está fora do sítio. O velho relógio de pêndulo no corredor mantém o ritmo monótono, como uma canção de embalar antiga; o som das minhas mãos ásperas a alisarem as pregas no cobertor sobre o meu peito; a minha respiração pesada, que vai e vem contra as paredes da pequena divisão. Tudo parece bem. Mas há algo de errado.
Quando tudo começou, o sonho acabava mais cedo. A primeira vez que o tive, acabou assim que ouvi os passos. De tal modo que, quando acordei, tentei adormecer de novo, rapidamente, na esperança de continuar onde tinha parado. Mas o sonho só voltou na noite seguinte. Voltou todas as noites depois dessa. E a cada vez, os passos se aproximavam mais. e o desespero se tornava maior. Hoje… Hoje, foi a primeira vez que aquilo me tocou. Ao acordar, era como se ainda sentisse aquela mão no ombro, fria e quente ao mesmo tempo.
Não o consigo ver, na escuridão, mas sei que deixei o terço em cima da mesa-de-cabeceira, como sempre fiz. Não é nele, no entanto, que procuro conforto. A seu lado, há uma fotografia do nosso dia de casamento. As décadas esbateram os traços das pessoas que éramos na foto, mas não de forma tão violenta como o tempo tratou as pessoas que para ela olham. É irónico como me revejo mais facilmente na rapariga que era na foto do que na velha que vejo ao espelho. E, no sonho, sou essa rapariga, ainda capaz de correr. A ti, a guerra roubou-te a velhice; a mim, ofereceu-me solidão. Os miúdos cresceram e ainda visitam, mas não há como tapar o vazio que deixaste.
Os olhos querem chorar, talvez mais por hábito do que por necessidade. A boca quer engolir, mas a garganta está seca. Junto forças para lidar com as dores que o levantar da cama traz, e beber um copo de água na cozinha, mas o corpo não reage quando me tento mexer. Primeiro, sorrio: anda lá, velhota! Tento de novo, e de novo, e sou incapaz de me mover. Uma bolinha de pânico começa a rodopiar no meu peito. E dói.
Tento erguer as mãos, pousadas no peito, por cima do cobertor, mas também elas dormem, imperturbáveis. Olho para os pés quando os tento mexer, mas nem isso consigo. Só que… Terá sido mesmo? Terei visto algo a mover-se aos pés da cama? Uma sombra irrequieta? A bolinha de pânico cresce no peito e borbulha agora violentamente. Dói muito.
Sinto o toque frio e quente da sombra quando passa nos meus pés. Serpenteia pelo chão, como uma cobra, e trepa pelo canto do quarto. Tento respirar, mas é cada vez mais difícil. A dor no peito agarra-se aos pulmões, ao coração, ao estômago, e aperta-me. Quero virar-me, quero apertar o peito, quero respirar, mas o corpo recusa-se. Imóvel, vejo-me obrigada a ver a sombra rastejar no canto, agarrar-se às paredes, alongar-se no tecto enquanto o pânico me rasga por dentro, como facas, tentando sair de mim. Quero gritar, mas não consigo. Dói tanto. Ajuda-me!
…
Desapareceu!
Não…
Fui eu…
Onde é que estou?
Já não dói.
Estou no quarto, de pé, ao lado da cama. A manhã calma entra pela janela. Ouço um som lá fora, mas não tenho medo. Sei que são os miúdos. Ouço os filhos deles irromper pela porta de entrada. Ouço-os chamar por mim, e uma voz a dizer que o pai vai ver se a avó está acordada. Ele entra no quarto e vê-me, como eu me vejo agora, deitada na cama, quieta, de mãos pousadas no peito e sobre o cobertor sem pregas. E sabe logo.
Quando o médico chegou, chamou-lhe «uma morte santa». Ouço de novo aquele som. «Como a mãe dela», diz o meu mais velho. «Era como ela queria ir», diz a mais nova, enquanto limpa as lágrimas e aperta o filho contra si. E ouço novamente o som.
Vejo as pessoas vestidas de preto chorarem ao pé do caixão. Sei que hoje é por necessidade, mas um dia será apenas por hábito. E vai passar. Ouço o som mais uma vez, e agora sei o que é. Não é como no sonho. Não. És mesmo tu, não és?
Sigo o som dos passos e, atrás, ouço os miúdos, abençoados pela ignorância, confortarem os que choram, dizendo que morri em paz.
*Este texto foi redigido segundo o Acordo Ortográfico de 1945
SOBRE O AUTOR
Adrien Lochon
Adrien Lochon nasceu em Paris, mas hoje é mais provável encontrá-lo em Alcanena. E, se o encontrarem, o mais certo é que vos conte uma história. Ou duas. Ou três.
Pode ser a história dos tempos em que estudou Engenharia Informática no ISCTE. Ou a de como a magia entrou na sua vida e o levou a fazer espetáculos um pouco por todo o lado. Talvez fale das coisas que o inspiram: os livros de Beckett, os filmes de Tarantino, as canções de Springsteen.
E há ainda as histórias que escreve. Mas essas ele não as conta em voz alta. Prefere guardá-las no papel, para não estragar o final.