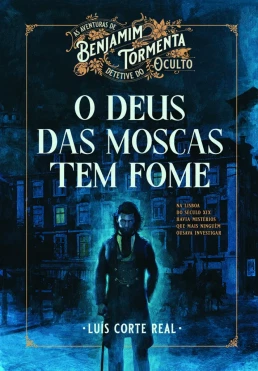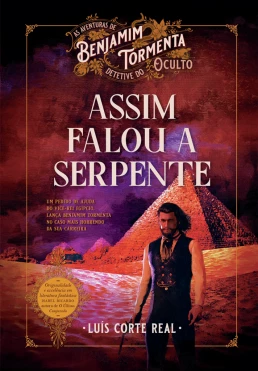Entrevista ao escritor Luís Corte Real
Autor de «O Deus das Moscas Tem Fome» e «Assim Falou a Serpente»
«Seria uma excelente maneira de acabar as aventuras do Benjamin Tormenta com esse conto do Egito porque, sem dar spoilers, acho que acaba de uma maneira satisfatória para mim, como autor»
***
Os nossos livros estão à venda!
«Morte e Outros Azares»
16.50 € (com IVA)«Os Melhores Contos da Fábrica do Terror – Vol. 1»
16.50 € (com IVA)No início da minha conversa com o Luís Corte Real, confessei que, sem me aperceber, tinha começado pelas aventuras do Benjamim Tormenta «ao contrário», ou seja, pelo Assim Falou a Serpente (o segundo volume) em vez de O Deus das Moscas Tem Fome (o primeiro, lançado em 2021). Não segui a sequência «lógica», mas isso não me tirou a curiosidade de querer conhecer a origin story deste detetive do oculto, possuído pelo demónio Lamashtu, que vive na Lisboa oitocentista.
Além de ser o pai desta personagem atormentada, Luís Corte Real é também o fundador da editora Saída de Emergência, que faz 20 anos em 2023. Era (quase) inevitável que, nesta entrevista, também se falasse da editora, dos projetos que aí vêm e do estado do mercado editorial em Portugal.
As aventuras do Benjamim Tormenta são a sua primeira obra de ficção?
Tinha escrito meia dúzia de contos para algumas antologias que nós [Saída de Emergência] publicámos ao longo dos anos, como a antologia Pulp Fiction Portuguesa, ou a das Doenças Excêntricas e Desacreditadas, sobre doenças fictícias, um projeto do Jeff Vandemeer a que juntámos um anexo com doenças de autores portugueses. E depois, um conto ou dois para a revista BANG!. Desde miúdo que queria escrever, a minha paixão sempre foram os livros, mas assim, com mais fôlego, foi mesmo O Deus das Moscas Tem Fome, que saiu o ano passado [2021] e que foi escrito no ano anterior, se calhar também aproveitando a pandemia. Mas, resumindo, estive a preparar-me durante 40 anos. [risos]
O Luís descreve o ambiente destas obras como «os Ficheiros Secretos na Lisboa de Eça de Queirós». Como é que surge esta ideia de agarrar numa Lisboa que para nós existe nos livros, porquê especificamente essa Lisboa?
Eu gosto muito da figura do detetive do oculto. Gosto muito, na banda desenhada, do Alan Moore, do Mike Mignola; até na DC e na Marvel há detetives do oculto, normalmente com histórias do paranormal, monstruosidades e esse tipo de personagens. Também há filmes, séries e romances. O que não havia ainda era uma obra com um detetive do oculto português. Tendo decidido criar essa figura, quis que tivesse um demónio dentro dele para torná-lo uma personagem mais «atormentada». O demónio é uma presença nefasta, Tormenta está sempre em guerra com ele, mas, ao mesmo tempo, dá-lhe superpoderes, permite-lhe ver o que os outros não veem, ouvir o que os outros não ouvem. Depois, a questão foi escolher a época. E havia duas épocas que me interessavam. Uma era a época vitoriana, porque a maior parte dos detetives do oculto, de uma forma ou de outra, reside na Londres Vitoriana e se cruzam com o Jekyll e Hyde, com o Homem Invisível, com o Drácula, com todas aquelas personagens clássicas; A Liga dos Cavalheiros Extraordinários, de certa maneira, é um grupo de caçadores de monstros que também cumprem o papel de detetives. A outra época de que gostava muito, por causa do Lovecraft, eram os anos 20 e 30 do século XX. E isso por causa dos contos e dos role playing games do Lovecraft que jogo e joguei muitas vezes, naquela cidade imaginária de Arkham. Eu sou sempre o keeper, faço as aventuras e as personagens vão para Nova Iorque, para Boston, para o Egito, para a Europa. É uma época de que gosto e que conheço relativamente bem, em termos de como é que se vivia, como se vestia, as tecnologias que havia, os paquetes, tudo isso. Mas, na hora de escolher, acabei por ir para a época vitoriana por causa do Eça de Queirós. Porque o Eça tem tantos livros sobre a Lisboa oitocentista que, lendo bem a obra dele e tomando notas, quase funciona como um guia de viagens: o que comiam, o que vestiam, como é que eram as casas, os carros. E decidi levar Benjamim Tormenta para 1873. Escolhi esse ano porque nasci em 1973 e achei piada que a história começasse 100 anos antes de eu ter nascido. Depois, fui investigar a época. Li o Eça de Queirós todo, a ficção e a não-ficção, as cartas, os livros de viagens, os ensaios. Li tudo, tomei notas, tenho dezenas e dezenas de páginas de notas. Mas só isso não chega. O Eça descreve o Chiado, mas não descreve uma eventual casa de ópio ou uma cena de pancadaria com os fadistas em Alfama. Isso já não faz parte do universo queirosiano. Acumulei dezenas de livros sobre Lisboa e sobre o século XIX. Compilei uma bibliografia grande, que está, aliás, no segundo volume. O meu trabalho é muito de puzzle. Sempre que quero descrever qualquer coisa, tenho de ir à procura das notas sobre aquele restaurante, o tipo de comida que serviam, o que é que as pessoas comiam naquela altura.
A descrição do bife da Jansen é bastante fidedigna, parece-me.
Lá está, essa Jansen existia e a descrição da Jansen é essa, o tipo de empregados e como é que eles se vestiam, o tipo de comida, o tipo de ambiente. Juntando as peças todas, consegue-se levar o leitor para aquela época, porque eu não invento restaurantes, nem invento menus. Eu sou fiel.
Esse lado dos RPG ajuda-o a construir esse universo? Imagino que exista algures um murder board com as várias personagens.
Quase, é quase isso. Mais virtual, no computador; mas sim, tenho ficheiros que dizem só «comboios» e ponho lá toda a informação sobre comboios. E sobre carros. Tenho ficheiros sobre medicina, sobre a polícia. Como é que se vestiam, quanto é que ganhavam, os hospitais que existiam, como é que estava a tecnologia na altura. Tenho páginas e páginas sobre roupas de homem e de mulher. Eu aí, tento reproduzir o estilo do Eça de Queirós, muito descritivo. Não é o meu estilo natural, mas, quando escrevo o Benjamim Tormenta, quero tentar replicar o estilo do Eça, um bocadinho mais pesado, um bocadinho mais descritivo. É óbvio que não se consegue, porque o Eça é inimitável, ele realmente tinha um talento único, mas dá para tentar ir pelo caminho que ele foi. Portanto, sim, acabo por ter aqui uma espécie de quadro com aquelas linhas, com post its para tentar criar uma época que já não existe e que nós conhecemos mal. Hoje em dia, já me proíbo de comprar mais livros da época [risos]. Porque eu acho que já tenho tudo o que preciso. Tenho tudo lido, tudo anotado, tenho é de escrever. Não preciso de pesquisar mais, mas é mais forte do que eu. Li três livros sobre Constantinopla do século XIX para tentar reproduzir, num futuro conto, Constantinopla de 1875. Tenho três ou quatro livros sobre os Açores do século XIX, também porque queria muito levar lá o Benjamim Tormenta. Lendo esses livros, tomando notas e misturando tudo o que já pesquisei sobre a época, já me sinto confortável para levar o Tormenta aos Açores como o levei ao Egito.
Quando a pesquisa leva o Benjamim Tormenta a sair de Lisboa, isso implica o autor viajar também, ou nem sempre?
Vim do Egito há 15 dias, por isso primeiro escrevi e depois é que fui lá. Mas o Eça de Queirós tem aquele livro de viagens que se chama O Egipto, escrito quando foi à inauguração do Canal do Suez. É um livro de que gosto muito e desde miúdo que já o li várias vezes, porque adoro as descrições, adoro a escrita do Eça e nunca me canso. Esse livro serviu-me de guia para o Egito do séc. XVIII. Portanto, eu «roubei» desse livro as descrições das pessoas, dos lugares, das vistas, das temperaturas, das sensações que o Eça viveu lá. «Roubei» tudo o que pude e misturei a isso outras informações do país que tinha de outros livros que consultei, nomeadamente de livros de Call of Cthulhu, por causa dos role playing games do Lovecraft. Há bocado, perguntava-me se jogar estes jogos ajuda. Acho que ajuda, porque, quando somos o keeper, o trabalho acaba por ser o de contar uma história. Temos de pegar numa história que está esboçada e depois, com a participação dos jogadores, cada um a interpretar a sua personagem, temos de ser quase os narradores e tentar manter o ritmo, tentar manter o interesse, tentar pôr uns cliffhangers no final de cada sessão para os jogadores ficarem intrigados para jogarem na semana seguinte. Há muito esse trabalho de criar uma narrativa, de criar emoção e de pôr a história a andar para a frente. Ajuda imenso. E muita pesquisa. Eu ainda não tinha ido ao Egito, mas o Eça tinha ido, e isso foi suficiente para mim.
E como é ter ido ao Egito depois de ter escrito sobre ele?
Foi fascinante, mas também algo deprimente. É óbvio que, em 1870, havia muita pobreza. O Egipto era um território que pertencia ao império otomano, mas, ainda assim, não tenho dúvidas de que muita da beleza se perdeu desde então. O Egito atualmente continua pobre, miserável em muitos aspetos, tem uma população que cresceu exponencialmente e muita da beleza que havia perdeu-se. Na altura, em 1870, ainda se podia encontrar umas múmias à venda na rua. Os ladrões de túmulos roubavam-nas e o turista comprava uma múmia. Eu adorava ter ido ao Egito em 1870, porque era realmente uma experiência única.
Assim Falou a Serpente foi mesmo a última aventura do Benjamin Tormenta?
Seria uma excelente maneira de acabar as aventuras do Benjamin Tormenta com esse conto do Egito porque, sem dar spoilers, acho que acaba de uma maneira satisfatória para mim, como autor. É um final de que eu gosto, em que fica tudo em aberto, onde não sabemos bem o que é que vai acontecer ou o que é que aconteceu. Gostava de escrever pelo menos mais um volume. Se são contos passados no passado ou se são contos posteriores a esse conto do Egito, logo se verá. Esse conto, no final do Assim Falou a Serpente, é, na verdade, um romance; a dimensão dele já o encaixa na categoria de romance. O segundo volume do Tormenta, no fundo, são três ou quatro contos e depois um romance no final. E acho que é uma boa maneira de terminar. Mas tenho a intenção de escrever um terceiro volume e pode-se passar antes ou podem ser contos posteriores, mas vamos ter mais aventuras.
O Luís ainda não está preparado para matar o Benjamim Tormenta, que, acrescento, é um excelente nome para esta personagem.
O primeiro volume apresenta a personagem um bocadinho melhor do que o segundo, mas com o Benjamim Tormenta há sempre mais perguntas do que respostas, e as respostas nem sempre são verdadeiras. Em relação ao nome: Benjamim é o nome do meu filho, um nome assim um pouco antiquado. E Tormenta: achei eu que tinha inventado um apelido fora do comum. Quando estava a pesquisar para um conto do Tormenta que se passa em Óbidos — um conto do terceiro volume que já está escrito —, descobri que Tormenta afinal é mesmo um apelido. Afinal, não inventei um apelido! Achei que precisava de um nome musical. Benjamim Tormenta é um nome musical, com personalidade, e eu dou sempre importância aos nomes, nunca são feitos ao acaso.
O que é que surge primeiro? É o nome? As características das personagens? Tudo ao mesmo tempo?
Depende. Às vezes, tenho personagens secundárias que são mencionadas brevemente. Se bem que há personagens secundárias que são retiradas dos romances do Eça de Queirós ou são mesmo personagens históricas. Aí, recorro à descrição do Eça e uso o mesmo nome. Quando sou eu que crio as personagens de raiz, tenho uma lista de nomes que me transportam para 150 anos atrás. Tento evitar os nomes mais comuns de hoje em dia, porque em português há nomes espetaculares e cheios de personalidade que se perderam.
E o leitor viaja no tempo, sem dúvida. Há detalhes que lhe tenham escapado e que uma pessoa mais minuciosa lhe tenha chamado à atenção?
Pode haver, sim. Fiz um grande esforço para não haver anacronismos. Mas, às vezes, também tomo algumas liberdades de autor. Nomeadamente num conto em que o Tormenta rouba um balão para poder perseguir um navio. Qualquer pessoa que perceba de balões sabe que eles não vão para onde o piloto quer; o balão vai para onde o vento sopra. Não se consegue perseguir um navio no meio da tempestade, mas o Tormenta consegue. Investiguei e descobri que havia, na época, uns motores a vapor que permitiam direcionar minimamente os balões. Mas ter de estar a explicar que havia um motor a vapor… Então, pensei: «não, as pessoas não estão assim tão informadas sobre balões para saberem que isto não podia acontecer». Portanto, eliminei o motor, e o Tormenta lá maneja o balão e vai atrás do navio. Isso é ficção absoluta! [risos]
Tem sempre autores convidados nestes volumes do Benjamim Tormenta?
Sim, no primeiro volume é a Anabela Natário, que é jornalista e costuma escrever ficção de época, mas sem a componente fantástica. Para ela, foi um grande desafio. E a ideia é todos os volumes terem um autor convidado, porque é uma coisa que vem do tempo da ficção pulp, do início do século, com os universos partilhados. O conto do Luís [Filipe Silva] também é muito giro, ele arranjou uma forma muito inteligente de se integrar.
No final do conto «A Mulher Gorda que Sussurra», fala-se da possibilidade do Charles Whitestone ser o Jack the Ripper. Vem aí uma história paralela?
Adoro esses pormenores porque muita gente não repara, lê aquilo e passa à frente, não junta as pecinhas. Realmente, achei muito giro a personagem desse conto, depois de tudo aquilo por que passou — os traumas, a loucura, as tragédias pessoais e o facto de ter fugido —, poder ir para Londres e voltar a fazer tudo outra vez. Só que lá ele assinava com outro nome! E é um piscar de olho a uma personagem emblemática da época, o Jack the Ripper, que marcou aqueles anos londrinos. Vai ter de haver um conto em que o Benjamim Tormenta vai a Londres, tem de ser. Londres era a capital do século XIX, a capital do maior império da história, onde andavam as grandes personagens da literatura oitocentista, onde se escreviam todas as narrativas fantásticas da altura, portanto, o Tormenta tem de lá ir. Era muito giro o Tormenta um dia cruzar-se com o Drácula, o Sherlock Holmes, ou partir à busca das Minas do Rei Salomão, do Haggard.
Temos então material para muitos mais volumes no futuro.
Se houvesse leitores, eu escrevia os contos. Ideias não me faltam, o que faltam são leitores. É muito difícil vender este tipo de romance em Portugal. É um nicho muito pequenino.
Sobre este problema da falta de leitores, acha que é falta de interesse? É preconceito por ser um autor português? Tendo em conta, por exemplo, o sucesso de vendas d’A Guerra dos Tronos.
Não sei. Acho que não se pode dizer que o género vende porque A Guerra dos Tronos vendeu. A Guerra dos Tronos vendeu precisamente porque vendeu fora do género, conquistou o mainstream. A minha avó com 90 anos leu os dez livros da Guerra dos Tronos! Quando se vende apenas para os leitores de género, estamos a falar de um universo pequeno que compra pouco. Muitos livros de grandes autores, às vezes, não vendem mil exemplares. O que significa que não se consegue pagar a produção e o livro dá prejuízo à editora. Por isso é que ninguém publica literatura fantástica, praticamente. Agora, está-se a publicar umas coisas mais adolescentes, Young Adult, uns romances que têm fantasia, mas o enfoque é mais na relação amorosa da personagem. Está muito na moda agora e tem de se aproveitar enquanto ela está aí. Aí sim, há uns picos, mas, quando a moda passa, as vendas caem para valores que não compensam. Aquela fantasia épica, estilo Tolkien, não vende em Portugal. Livros de fantasia mais pulpish não vendem também. Steven Erikson não compensa publicar. Brandon Sanderson e Robin Hobb também não. O género vende mal porque há pouca gente a ler, e algumas das pessoas que leem compram em inglês, e isso canibaliza e mata as edições nacionais. O que tentei com o Benjamim Tormenta foi fazer algo que não existe em mais lado nenhum. Porque pegar no Benjamim Tormenta e dizer que ele se chamava Benjamin Storm, vivia em Londres e tinha um demónio que falava inglês… Bem, já existem milhares de livros parecidos com isso. Para quê fazer mais um? Mas um Benjamim Tormenta, herói português, que vive na Lisboa queirosiana… Eu sei que só existe este. Mas continuamos com a falta de leitores, e há muita alternativa ao livro, sejam as plataformas de streaming, o telemóvel ou as consolas.
E um dia adaptar as histórias do Benjamim Tormenta a uma série de streaming ou ao cinema? Já lhe passou essa ideia pela cabeça?
Quando estou a escrever, estou a sempre a imaginar, inconscientemente, a série. Sem dúvida que dava, mas é preciso ter muito dinheiro. Porque é uma série de época, não dá para filmar na rua, é preciso produzir cenários caros. E depois, mete monstruosidades, o que implica CGI. Não seria uma série fácil nem barata. Há séries que têm este ADN, como Penny Dreadful, que se desenrola nos anos de 1800. E onde é que se passa? Londres, obviamente. Mas é esse o ADN, aquela época, aquela luz, aquela roupagem. Os X Files são isso, passado nos anos 90. Sai mais barato.
Gostava muito de ver a mulher gorda que sussurra numa série, porque a ilustração no livro conseguiu ser pior do que a minha imaginação. No bom sentido.
Acho que dava um CGI interessante, o Porto de 1800, sombrio, e depois aquela monstruosidade a arrastar-se. Acho que dava uma boa série de televisão, porque tem muito ritmo, conseguem adaptar-se os contos em episódios e há aquele arco narrativo que une os episódios todos. Mas eu sou suspeito, não é? [risos] São séries caríssimas, por isso o mais fácil seria adaptar para banda desenhada.
Acha que a banda desenhada traria mais leitores para o género? Não sei se um livro «grande» assusta os leitores.
Os leitores de literatura fantástica são conhecidos por gostar de livros grandes, por isso é que quase tudo o que se escreve no género tem mais de 400 páginas. O que é um problema grande para as editoras, que às vezes são obrigadas a dividir os livros em duas partes, porque senão precisam de vender dez mil exemplares e isso não acontece em Portugal. A Guerra dos Tronos vende, mas praticamente mais nada vende dez mil; essa é a razão de não termos mais autores publicados. Vamos a Espanha e os autores estão lá todos. Cá, até autores consagrados não são publicados. Acho que os leitores de fantástico estão habituados a livros grandes e, portanto, não se assustam, até os preferem. Os únicos livros pequenos que publicamos na Coleção BANG! são os clássicos, tipo Asimov e Arthur C. Clarke, porque, nesse tempo, um livro com 200 páginas era suficiente. O George Martin dizia que o problema foi termos passado das máquinas de escrever para o processador de texto. Antigamente, dava muito trabalho escrever, reescrever, organizar o trabalho. Quanto mais enxuto ficasse, melhor. Já o processador de texto facilita o excesso e a verborreia. E é capaz de haver aí uma certa verdade. E há também aquela ilusão de que, se o livro é grande, deve ser melhor; e darei mais utilidade ao meu dinheiro: «vou pagar 18 €, mas tenho aqui 450 páginas».
É uma relação um bocadinho estranha, essa relação de mercearia quando se compram livros.
Uma pessoa, quando compra um livro de 450 páginas, está praticamente a comprar dois livros. Portanto, compensa. Por exemplo, um livro de 600 páginas não pode ser vendido ao dobro do preço de um livro do Asimov que só tem 300 páginas e custa 18 €. Mas a editora gastou o dobro do papel, o dobro na impressão, tradução e revisão. Mas o livro não é vendido por 36 €; se calhar, é vendido por 21 €. A margem da editora vai para valores ínfimos, porque, se o livro, depois, não vende mil cópias, é prejuízo garantido. E os livros, muitas vezes, não vendem sequer as 500 cópias. Mesmo autores consagrados, por vezes, não vendem isso. Os leitores, depois, ficam frustrados porque cancelámos a série, mas, antes de cancelarmos a série, os leitores deixaram de comprar, ou foram comprar em inglês. Se o leitor tem o direito de desistir, a editora também tem o direito de desistir; caso contrário, vai à falência. Eu percebo, como leitor, a frustração. Mas, se a maioria dos leitores comprou o primeiro, mas não comprou o segundo, a editora já não vai publicar o terceiro. Infelizmente, o nosso mercado é muito pequeno, tem sempre sérias dificuldades. Cada português compra, em média, meio livro por ano. Portanto, são precisos dois portugueses para se vender um livro, quando, no norte da Europa, cada pessoa lê em média oito e nove livros por ano. Aqui em Espanha, acho que são quatro ou cinco livros por pessoa por ano. Pode ter a certeza de que, se os portugueses lessem tanto como os espanhóis, nós tínhamos tudo disponível, todos os autores de fantástico, de ficção científica, dos subgéneros de história alternativa, de steampunk. Estava tudo publicado e traduzido, porque se vendia sempre dois, três, quatro mil no pior dos casos. Em Portugal, vendem-se 200, 300, 500. Isso não paga a tradução, quanto mais todos os outros encargos associados à produção de um livro. É isso que os leitores têm de perceber. Precisamos que se leia mais.
Não sei se por ter sido a primeira depois da pandemia, mas achei a Feira do Livro deste ano [2022] com muito mais gente. Não sei se a comprar, se só a ver as montras.
A Feira do Livro correu muito bem. Havia imensa gente, muitos pavilhões, as pessoas estavam com saudades da Feira, estavam com saudades do evento, e teve a presença de muitos autores. Mas as livrarias têm vendido mal, e nós precisamos é das livrarias. A Feira é uma vez por ano. Eu, quando era miúdo, ou ia para a rua brincar ou lia um livro. Hoje em dia, os miúdos não brincam na rua e pouco leem. Têm muitas outras distrações: o telemóvel, a consola, o computador, o streaming. E depois, na escola, continuo convencido de que se faz um péssimo trabalho, ao dar aos miúdos exatamente os livros que vão fazer com que eles odeiem livros. A minha filha, no 9.º ano, vai ler Saramago! Não há melhor maneira de matar o Saramago do que pôr um miúdo do 9.º ano a lê-lo. É falta de noção. Quem decide isto vive para as aparências e não para os resultados. Eu acho que se devia tirar Eça de Queirós das escolas. O Eça de Queirós é o meu escritor favorito e, precisamente por isso, é que eu o tirava das escolas. Porque os miúdos têm de estar preparados para o ler. Se eles não leem em casa, como é que se lhes dá Os Maias para as mãos? Deem-lhes livros do Harry Potter, ou coisas mais simples. Porque eles vão ler o Harry Potter, e depois vão ler o George RR Martin, e, quando se lê o George Martin, já se está preparado para ler Eça de Queirós. Porque já se está preparado para acompanhar muitas personagens, tramas paralelas complexas, etc. Mas nós vivemos no mundo das aparências e pomos miúdos de 14 ou 15 anos a ler Saramago, a ler Eça, eles depois não percebem nada, odeiam e nunca mais na vida vão pegar nesses autores. Mas as aparências ficam ótimas! Eu acho que, com esta política horrível, não vamos pôr os miúdos a ler; e quando os miúdos não leem, quando forem adultos, daqui a dez anos, também não vão ler, e vai-se dar a machadada final no livro.
E tem de se pôr de lado o discurso de o livro ser caro.
O livro tem o preço que precisa de ter. Uma pessoa que diz que não lê porque o livro é caro, ou que não lê porque não tem tempo, está a arranjar desculpas. Toda a gente tem tempo para ler. Na verdade, não leem porque não gostam de ler, preferem estar no telemóvel ou a ver mais um episódio na Netflix. E, atenção, a editora portuguesa que vende um livro do George Martin por 18 €, por exemplo, ganha muito menos do que a editora inglesa que vende o mesmo livro por metade do preço. Porque a editora inglesa imprime cem mil exemplares na China, o livro chega quase de borla a Inglaterra, e quando o vende é só lucro. A editora portuguesa tem uma tiragem muitíssimo mais pequena, mas os custos fixos são os mesmos (o editor inglês nem tem de pagar a tradução, que pode bem chegar aos cinco ou seis mil euros). Somos um país pequeno, pagamos o preço de ser um país pequeno. Mas, se a razão para não se ler fosse os livros serem caros, então os livros nas campanhas de 40% e até 50% de desconto vendiam-se que nem pãezinhos quentes. Só que isso não acontece.
Aproveitando que estamos a falar de editoras, a Saída de Emergência faz 20 anos em 2023.
Vamos ter de assinalar isso de várias maneiras. Estamos a fechar as formas de o fazer!
Como é que têm sido estes 20 anos?
Têm sido absolutamente fantásticos. Mas, atualmente, sei de várias editoras a passar mal, em parte porque chegaram os grandes grupos editoriais estrangeiros. As pessoas não têm noção, mas esses grupos são autênticas máquinas de trucidar. Para eles, o mercado português não vale nada, é uma gota no oceano, mas até essa gota eles desejam. Entraram em força, têm muito dinheiro e conseguem ficar com todos os autores que querem (vejam o que aconteceu ao José Rodrigues dos Santos). Não auguro nada de bom para o mercado nacional e, um dia destes, vamos ter só três ou quatro editoras estrangeiras que controlam tudo. As editoras nacionais que quiserem vencer este desafio terão de ser muito criativas, saber escolher projetos diferentes e tratar bem os seus autores. Não ajuda sermos um país onde o Estado, nos últimos 20 ou 30 anos, tem feito tudo o que é possível para que as pessoas não leiam. Não se criaram hábitos de leitura, não se criaram políticas para pôr os miúdos a ler desde cedo. Isso tudo, misturado aos dois anos de pandemia, foi uma infelicidade. Na Europa, venderam-se mais livros durante a pandemia; as pessoas tiveram mais tempo livre e, como tal, leram mais. Em Portugal, leram menos! Parece um contrassenso, mas depois lembramo-nos de que o António Costa, em plena pandemia, proibiu a venda dos livros nas grandes superfícies, que eram praticamente os únicos locais onde as pessoas iam. Falando de coisas mais felizes, a SDE está bem e queremos celebrar os 20 anos em grande. Temos imensos projetos para 2023, excelentes autores e livros, e até a nossa chancela de não-ficção, a Desassossego, tem crescido imenso. Atualmente, a Coleção BANG! tem um peso menor na editora, mas vamos continuar a publicar e a lançar semestralmente a revista BANG!. Também queremos voltar a organizar o Festival BANG! para o ano. E aqui vai uma novidade gira e original: estamos quase a lançar o podcast As Aventuras de Benjamim Tormenta, com contos que vão ser lidos em episódios. Procurem no Youtube e em todos os locais onde se ouvem podcasts!
GOSTASTE? PARTILHA!
Sandra Henriques
Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.