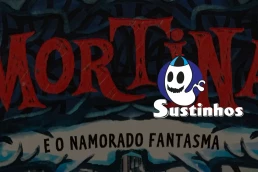Entrevista aos autores de «SINtra», Tiago Cruz e Inês Garcia
«Queremos que as pessoas que já foram a Sintra consigam rever-se no espaço que conhecem e na mitologia neste livro»
SINtra foi pretexto para esta conversa com o Tiago Cruz e a Inês Garcia. Inevitavelmente, e por causa do percurso académico de ambos, também conversámos sobre o estado das artes em Portugal, do que as novas gerações querem aprender, do estigma que existe à volta do terror, da banda desenhada, dos videojogos e de novos projetos (deixo só estes teasers: sintraverse, Amália Rodrigues e Lovecraft).
***
Os nossos livros estão à venda!
«Morte e Outros Azares»
16.50 € (com IVA)«Os Melhores Contos da Fábrica do Terror – Vol. 1»
16.50 € (com IVA)Falem-me um bocadinho de vocês, do vosso percurso profissional até aqui.
Inês Garcia: Tenho formação em Belas-Artes: licenciatura em Pintura, mestrado em Anatomia Artística e doutoramento em Belas-Artes, Desenho (que terminei em janeiro de 2022). Portanto, é tudo Belas-Artes, é tudo Lisboa, é tudo artes, desenho e bonecada. [risos] Além disso, dou aulas no Politécnico de Lisboa e na [Universidade] Lusófona, [sobre] tudo o que tenha a ver com desenhar bonecos e pintura digital. Na Lusófona, especificamente, arte para videojogos.
Tiago Cruz: Sou licenciado em Comunicação e Artes. Profissionalmente, como freelancer, estou em vários sítios. Estou no Museu das Comunicações, no Museu Bordalo Pinheiro e vou dando formações ligadas à escrita e à criação de personagens, na Lusófona e em eventos associados a este tipo de matérias (banda desenhada e videojogos).
Como é que começa a vossa ligação ao terror?
TC: Eu, desde muito pequeno, sempre adorei terror. Quando tinha cerca de 8 anos, tive leucemia e estava internado no IPO, e lembro-me de passar as noites a ver este tipo de filmes. Como não havia aquela questão de ter horas de deitar, passava as noites a ver filmes de terror. Sempre foi de facto algo de que gostei, e na banda desenhada e videojogos também sempre gostei desta temática. Sempre esteve muito presente, sempre foi algo que me preencheu muito o tempo. Quando conheci a Inês, ela ainda era muito aquela artista tradicional de Belas-Artes. E eu estava sempre a dizer-lhe: «tu desenhas bem, mas já experimentaste coisas mais fora como os videojogos e a banda desenhada?» e comecei a mostrar-lhe umas coisas de terror.
Então tu és o culpado por puxar a Inês para o lado do terror!
TC: Sim, sim.
IG: Enquanto era pequena, sempre tive uma grande paixão pelo desenho. Adorava desenhar tudo o que aparecesse, nomeadamente pessoas e animais; era a minha fixação. Cresci com a Turma da Mônica e o Tio Patinhas, entre outros. Depois, uns anos mais tarde, apareceu uma revista que era feita por uns artistas italianos espetaculares, as W.i.t.c.h. E eu adorava aqueles desenhos, passava o tempo a copiá-los. O que eu realmente gostava era de desenhar, não me interessava o tema desde que fossem pessoas ou animais. De terror, lembro-me de que, quando tinha seis anos, vi o It, e desde aí passei a não gostar de palhaços. Mas, à medida que fui crescendo, por gostar de animais e pelas suas estruturas, comecei a achar piada a crânios, ossos. Eu e o Tiago namoramos há 14 anos. Como podes ver, há aqui alguns anos de influência mútua e, de facto, quando ele me conheceu, ainda na secundária, eu gostava muito de fazer retrato. Ele aqui teve um papel importante, no sentido em que me ajudou a alargar horizontes: fazer coisas hiper-realistas é bom, mas depois não evoluis mais. Não tinha mensagem por trás. E foi aí que o Tiago foi bastante importante, porque me ajudou a perceber que, de facto, eu era uma artista realista que pintava muito bem, mas a quem faltava uma mensagem, faltava qualquer coisa —o que é que havia mais além disso? Isto foi um clash. Achava muita graça à estética das coisas mais gore, só que não sabia muito para lá daquilo. Achava muita graça àquelas figuras monstruosas. Entretanto, no mestrado de Anatomia Artística, tive muitas vezes de ir à morgue para desenhar as figuras. Aí cresceu o meu gosto [pelo tema] e começou a crescer a minha coleção de crânios.
TC: Os rapazes, geralmente nos aniversários dos namoros, dão flores e etc. Eu compro-lhe um craniozinho para a coleção. [risos]
IG: Este mix de eu gostar destas coisas e depois o Tiago a puxar-me com o concept art, com os videojogos, com a parte dos filmes…
TC: …um bocadinho fora do academismo. As coisas são como são. Belas-Artes sempre foi muito academista, então, em termos de referências, tudo o que é fora daqueles cânones de que eles gostam geralmente não interessam, não prestam, etc. Eu tinha sempre coisas um bocado mais fora para lhe mostrar, coisas que eu sabia que ela gostava, que tinha a ver com a anatomia dos animais.
A academia demora algum tempo a acompanhar os gostos e a evolução das coisas. Vocês veem isso a mudar nos próximos tempos ou não?
TC: Posso ser muito sincero quanto a isso. Eu estou no Museu Bordalo Pinheiro, e o Bordalo Pinheiro, na altura dele [séc. XIX], já se queixava de que era tudo demasiado academista. E face a críticas que ele faz ali, as coisas não mudaram assim tanto. Embora, por exemplo, agora haja aquela ideia de eles terem uma abertura um bocadinho maior, ela de grande não tem nada. Acho que ainda vai demorar muito tempo, porque em Portugal ainda temos aquele estigma de que, se é videojogos, animação e banda desenhada, é público infantil.
IG: Já tivemos alguns casos de senhoras que disseram [em relação ao SINtra] «isto é um desenho tão giro para o meu netinho», e nós perguntarmos que idade tem o netinho e elas dizerem que tem oito anos. É melhor não [oferecer este livro ao neto], porque, lá está, hoje em dia é preciso cada vez mais contexto.
No nosso tempo, com a mesma idade, leríamos isso, mas seria diferente. Os nossos 8 anos não são os oito anos deles.
IG: Completamente. Eu cresci com Dragon Ball, e o Tiago também, com o Samurai X, que era altamente violento e sangrento, e eu adorava aquilo. Não é por isso que ando agora a matar pessoas.
TC: Eu, com oito anos, estava internado no hospital a ver o Oitavo Passageiro! É totalmente diferente.
IG: A questão é o contexto. E hoje em dia, parece-me, do que eu conheço, que as pessoas não dão o contexto que as coisas merecem às crianças.
TC: E mais do que contexto. Por exemplo, a violência é supostamente uma coisa negativa, mas é uma coisa que faz parte. A violência, o medo… São coisas que cada vez mais são metidas para debaixo do tapete. Não se pode ver, não se pode perceber, não se pode ter contacto com, porque é mau. Depois, acaba por ser pior, quando as pessoas, mais tarde,em adultos, começam a ter contacto com essas coisas. Porque o medo e a violência estão presentes na nossa maneira de ser e nas nossas emoções.
IG: E as crianças têm essas emoções!
O que algumas pessoas chamam de ditadura da felicidade, que temos de estar sempre bem e sorridentes.
IG: Isso é um tema que me interessa bastante, porque eu explorei isso no meu doutoramento, que tem a ver com a criação de monstros nos videojogos, nas artes e também no ensino. E, num dos capítulos em que exploro isso, é exatamente a questão de que, mesmo sendo crianças, não devemos evitar determinado tipo de emoções. Elas têm de as ter porque, se forem evitadas, quando chegam a adultas, não sabem lidar com elas, a frustração, a tristeza, etc. Na nossa sociedade, cada vez mais há uma maior problemática à volta da saúde mental,e, quanto mais evitarmos sentir as coisas, pior.
Era uma área em que o terror podia ajudar imenso.
TC: Sim.
IG: Na minha opinião, acho que não pode partir só da oferta que existe, também tem de partir dos pais. Tem de ser um esforço de educação. Não pode ficar só pelo professor, não pode ficar só pela oferta que existe de editores, escritores, artistas, etc. Tem de se ver as coisas com contexto, explicando o que é que acontece. Vou dar um exemplo que se passou comigo, com a minha sobrinha de sete anos. Ela viu [comigo] o Eduardo Mãos de Tesoura, que é um filme que, na boca de muitos pais, é horrendo. Vi com ela a primeira vez, quando ela devia ter uns cinco anos, e eu explicava o que se ia passando. Eu dei-lhe o contexto e ela percebeu.
TC: E é um filme com uma mensagem lindíssima. E pegando no que a Inês está a dizer, se formos a ver em termos de psicologia e filosofia — aquele conceito do Karl Jung da sombra, das emoções negativas, daquele lado animalesco —, se as pessoas não têm contacto com essas emoções, depois, quando têm de lidar com elas de forma muito intensa, não vão saber o que fazer com as mesmas. Acho que é muito mais grave isso acontecer numa idade adulta do que em crianças. As coisas têm de se construir, estão presentes em nós.
E depois, temos casos em que as pessoas desatam aos tiros em escolas, em países com fácil acesso a armas como os Estados Unidos.
IG: Mas é mais fácil culpar os videojogos, o anime e o metal.
Como o documentário sobre o impacto negativo do Slenderman…
IG: Mais uma vez, a importância do contexto.
TC: Como este caso que houve agora em Portugal [na Universidade de Lisboa], em que um artigo dizia que a culpa disto é de ele ver anime. Não! A culpa disto é de o rapaz ter algum problema psicológico. Se calhar, não teve o acompanhamento que devia enquanto crescia, mas não utilizem isso como manchete. Já no Bowling for Columbine [as pessoas] diziam que a culpa era do Marilyn Manson, não era o facto de o miúdo ter cinco armas em casa, destrancadas.
Como é que foi a academia aceitar a tua tese de doutoramento sobre monstros?
IG: O mestrado já foi 100% influenciado pelo Tiago e teve a ver com um videojogo específico.
TC: Eu fui o outro orientador. [risos] Tinha todas as referências que eles, em Belas-Artes, não tinham. [risos]
IG: Ele pode soar a prepotente, mas não é. O Tiago é a pessoa que conheço que mais sabe de videojogos. E, de facto, se não fosse ele a ajudar-me, num universo académico, ia ser muito difícil ter um professor que me dissesse «olha, vai ver o videojogo X», porque [esse] também não é bem o foco [deles]. Se foi bem recebido [o tema para a tese]? Foi muito difícil. Ao início, foi difícil porque estás num sítio académico onde hoje em dia já começa a haver mais, [mas ainda] é como estares a primeira vez a roçar mato. Vem uma pessoa, corta ali, começa a haver um caminho, e depois vêm pessoas e trilham aquilo e já está a ervinha melhor para tu passares. Mas há sempre alguém que tem de levar ali com os insetos todos na cara. Havia muito pouca coisa. Já havia alguma, mas é claro que, para pessoas da área de desenho e pintura, eu estar ali a falar de monstros, que é uma coisa que à partida, pela definição, não é bonita, e depois estar a falar de videojogos, que é a grande abominação… Porque videojogos é para crianças, e Belas-Artes é a arte elevada ao máximo académico, pinturas a óleo ou então muito conceptual. Tens estes dois espectros. E [a área dos] videojogos não cabe aí. Foi muito difícil, tive alguns comentários muito desagradáveis, sofri injustiças porque o meu trabalho custou, saiu e saiu bastante completo, mas mesmo assim houve sempre coisinhas e comentários. É sempre muito mais fácil fazeres um trabalho que tenha a ver com Leonardo Da Vinci do que propriamente estares a falar de videojogos. Ou ainda pior do que isso, estares a comparar Leonardo Da Vinci ou outro artista do Renascimento com o que tu fazes agora em videojogos, que é a perversão total. Como podes ver, levei muito na cabeça, mas depois, no final, tiveram de levar comigo. [risos]
A academia devia ser o primeiro sítio onde abririam os braços a este tipo de iniciativa e inovação.
IG: Eles vão abrir os braços, mas vão abrir pela força. Não é porque querem. Não é porque gostam, ou porque respeitam. É porque há muita gente a fazer e não há como ignorar. Chega a uma altura em que não podem ignorar.
E a partir do momento em que uma coisa está bem fundamentada, não têm por onde pegar.
TC: Acho que já nem é tanto pela questão da fundamentação. Tem mesmo a ver com o estado atual. Hoje em dia, estamos a caminhar para uma sociedade absolutamente digital, e aquela ideia muito elitista que Belas-Artes sempre teve do artista, que está fechado na sua casa a pintar quadros e vende aquilo por balúrdios [já não existe]. Os estudantes que estamos a formar já são pessoas que cresceram na era totalmente digital, com computadores, Internet, redes sociais, etc. E hoje em dia, o que eles procuram [em termos de formação] tem a ver com isso. As outras faculdades, mesmo sendo privadas e mesmo não sendo tão direcionadas para artes, estão a oferecer muito mais coisas ao nível de concept art, de videojogos (que são as coisas que estão a ter procura). Belas-Artes, muitas vezes por ter esse tipo de postura, acaba por perder para todas as outras. Eles, de certa forma, estão a ser obrigados a abrir [as portas], ou vão deixar de ter alunos.
IG: Eles são obrigados a ter de mudar, e as coisas estão a acontecer. E, cada vez mais, há teses que vêm no seguimento da minha, como já havia também antes, pouquinhas, mas já havia. De criação de personagens, concept art, monstros, videojogos, pintura digital. Essa também é outra luta!
TC: Isso e o concept art, que eles continuam a insistir que é arte conceptual, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra.
O mesmo acontece com o cinema de terror em português. Ainda se acha que o cinema português, no geral, tem de ser sempre uma coisa muito elitista que só meia dúzia de pessoas compreende.
TC: Posso dar-te um pequeno exemplo. Eu e a Inês também tivemos um projeto associado a um videojogo e, quando tentámos procurar apoios para continuar o desenvolvimento do mesmo, [percebemos que] os videojogos nem sequer são contemplados como criação artística para receber apoios. Em Portugal, ainda estamos nesse nível. E dentro do apoio ao cinema (estamos a criar uma curta de terror para cinema), 90% dos apoios fecham logo as portas quando tu mencionas que é de terror.
IG: Existe logo esse estigma.
Falemos do SINtra. Este é o vosso primeiro álbum de banda desenhada em conjunto? Ou o primeiro da vossa carreira?
TC: É o nosso primeiro álbum de banda desenhada. Anteriormente, só tínhamos feito uma curta para uma coletânea da Escorpião Azul. E nem foi de terror, foi de humor, na altura. Criámos uma história de humor com uma raça alienígena que é só feita de crânios.
Gosto imenso destas criaturas do SINtra, apesar de ter fobia a aranhas. E gostei muito que incluam a concept art no final, como chegaram às versões finais das personagens. Vocês vão sempre fazer isso?
TC: Sim. Em Portugal, não tínhamos muito essa tradição, mas muitas obras estrangeiras já o fazem. Quando falámos com o Jorge Deodato da Escorpião Azul sobre o livro, disse-lhe que gostava que tivesse uma secção para explicarmos às pessoas o que está por trás da história, para o leitor ir procurar mais. No caso específico do SINtra, e de outras obras que temos também, passa muito por Portugal ser riquíssimo em termos de imaginário. Existem imensos projetos ligados à fantasia e que vão sempre buscar aqueles imaginários que já estão bem definidos: americanos, europeus, medievais, etc., quando em Portugal temos muitas lendas em que podíamos pegar e transformar em coisas espetaculares. A nossa ideia com o SINtra foi começar um bocadinho isso, pegar no imaginário português, que é muito tradição oral, e que é algo que se perde na nossa era, e começar a registar muitas destas coisas e contá-las de um ponto de vista nosso, obviamente, mas tendo sempre um ponto de referência. E deixar uma pequena nota sobre onde fomos buscar isto. Não somos os donos desta história, vão ver onde ela está.
IG: Para explicar como chegámos à casa das Três Marias: eu tenho casa em Sintra e, desde pequena, muitas vezes íamos para a Praia das Maçãs, e lembro-me de ver muitos palacetes abandonados que achava maravilhosos [com nomes como] Amorzinho, e este Casal das Três Marias. Com o passar dos anos, e relacionado com o facto de Portugal estar na moda, estes palacetes foram sendo comprados para fazer hotéis de turismo rural, etc. O único que não foi comprado foi o Casal das Três Marias. Sempre achei a casa muito interessante e gostava muito de ruínas. Desde que estudei o interesse que havia com as ruínas do Romantismo do séc. XIX e toda aquela melancolia, sempre achei aquilo muito fascinante e sempre gostei de ver casas abandonadas. Depois, na Licenciatura em Pintura e em Desenho, utilizei este tema das ruínas. Fiz em Desenho uma série de fragmentos e depois, em Pintura, pegava em fragmentos que trazia e pintava em cima [deles] aquilo que via.
TC: Ela pintava ruínas em ruínas, literalmente.
IG: Sabia que havia alguma coisa com aquela casa, mas nunca tinha investigado.
TC: E daquelas casas, naquela zona, esta foi a única que não foi demolida ou comprada ou remodelada.
IG: Entretanto, fiquei a saber que havia uma lenda de que a casa estaria assombrada, e isso é tudo o que precisas de saber [para começar a criar a história].
TC: Descobrimos isso num blog que já nem existe. Segundo a lenda, naquela casa vivia uma família muito abastada, o pai nunca estava e a mãe ficava em casa com as três filhas que davam o nome à casa: Ana Maria, Joana Maria e Teresa Maria. Dizia-se que a mãe, muito desgostosa com a vida que tinha, à noite fugia de casa e ia para o Monte da Lua fazer alguma coisa ligada a rituais, magia ou feitiçaria, para tentar mudar a sua sorte. O que se contava era que alguma coisa a seguiu até casa numa dessas noites e elas nunca mais foram vistas. Óbvio que depois, ao fazermos esse trabalho de investigação jornalística, descobrimos a verdade por trás daquela casa, e que ela foi construída pelo Carvalho Monteiro (Monteiro dos Milhões), que construiu a Quinta da Regaleira. A casa também tem elementos arquitetónicos peculiares. Tendo em conta tudo o que descobrimos em termos da história da casa, tendo em conta a verdade que depois não é tão fascinante como a lenda, achámos que seria o mote perfeito para contar esta história.
Enquanto estava a ler, eu acreditei piamente que esta história era real. Porque associas Sintra sempre a estas histórias.
TC: Uma das minhas primeiras inspirações para esta história era Sintra, por causa daquela curta-metragem A Estrada de Sintra.
IG: A primeira vez que vi a curta pensei que fosse real.
Sim, ainda há muita gente que acredita que aquilo é real.
TC: Está muito bem feito, e pegaram numa coisa que nem era muito usada na altura cá, o found footage.
No livro, gosto muito de ver o processo de como chegaram à história e às personagens. Achei os monstros grotescos, no bom sentido, porque a mistura de elementos funciona (mesmo sabendo que estas criaturas não existem).
TC: Já que tínhamos o trabalho jornalístico feito, não queríamos parar por ali. Se vamos ter criaturas, vamos fazer coisas que façam sentido em Sintra. Queremos que as pessoas que já foram a Sintra consigam rever alguma coisa do espaço que conhecem e da mitologia neste livro. Por isso, as criaturas tinham de ser animais que existissem aqui.
Já pensaram em transformar o SINtra em animação?
IG: Se houvesse interesse nisso, era algo a ver, sim.
TC: Sim, acho que é mesmo uma questão dos meios.
IG: Nós chegámos a ter um convite para adaptar o SINtra ao teatro, só que envolvia uma série de burocracias e de estruturas para as quais não estávamos preparados.
Inês, tu sentes que recebes um tratamento diferente por seres uma mulher a desenhar «estas coisas»?
IG: Neste campo em específico, nunca senti nenhum comentário, porque as pessoas de imediato sabiam que eu era esquisita. [risos] Eu não escondo nada. Aliás, para os meus alunos, nas primeiras aulas, digo logo que gosto de cabeças de animais, por isso é melhor eles portarem-se bem, porque estou a precisar de uma cabeça humana. [risos]
Os teus alunos sabem que fazes coisas de terror?
IG: Sabem. Porque é como eu te digo: eu não escondo nada, falo de tudo, digo que gosto de tudo o que seja violento e sangrento, mostro os meus trabalhos, desenho para eles. Portanto, toda a gente sabe.
TC: Muitas vezes, acabas por convidá-los para outros projetos que fazemos. Por exemplo, neste momento, estamos a desenvolver um curso de banda desenhada no Museu Bordalo Pinheiro, e muitas das pessoas que se inscreveram foram alunos dela ou colegas de alunos dela, porque ela também acaba por mobilizá-los para coisas fora daquilo. Lá está, as faculdades têm limites a nível de temática. Fora dali, consegues mostrar outras coisas.
IG: Já fizemos workshops em vários eventos e para faixas etárias diferentes, e sempre correram bem porque, a meu ver, são coisas com que as pessoas não estão habituadas a lidar.
Acham que o terror em Portugal tem futuro?
TC: Eu acho que vamos ter sempre futuro no terror em Portugal. Basta abrir o noticiário. As pessoas, muitas vezes, vão recorrer ao terror para tentar criar coisas muito piores do que aquelas com que lidamos. Temos em Portugal gente muito criativa. A nível histórico e a nível contextual, temos muitas ferramentas ótimas para a criação de terror, embora seja difícil, em especial no caso da banda desenhada e da escrita, viver disto em Portugal se não tivermos outra fonte de rendimento. Mas existe muita vontade. Podes, às vezes, não encontrar muita gente a produzir, mas as que encontras são muito apaixonadas e muito dedicadas a este tipo de área, e é isso que faz com que as coisas andem para a frente. Nós, enquanto povo, também temos uma tendência para gostar destas coisas mais negras. Por exemplo, em comparação, no campo da música, nós, por metro quadrado, somos dos países da Europa com mais bandas de metal. Parece que, em Portugal, há qualquer tipo de predisposição. Talvez seja por termos passado por uma ditadura muito recente, existe aqui qualquer tipo de predisposição [para o lado mais negro].
IG: Existe uma certa melancolia. Somos um povo muito melancólico, e acho que faz todo o sentido, cada vez mais. Felizmente, estão a nascer novas editoras [de banda desenhada], tenta-se editar mais autores portugueses na banda desenhada. Nem todos eles são obviamente do terror, mas o facto de haver mais autores e nós termos lançado o SINtra ajuda a que outras pessoas vejam, leiam isto e digam: «eu gosto disto, não sabia que isto se fazia cá». E isso ajuda estas novas gerações, e tenho muitos colegas meus da banda desenhada, que são professores, e que também estão a influenciar os seus estudantes. As redes sociais também ajudam. Claro que há futuro, porque à nossa volta é só desgraça. É claro que há futuro em Portugal para o terror em termos de inspiração. [risos]
TC: Teremos sempre futuro no terror, nem que seja porque tencionamos continuar a fazer coisas dentro dessa área. A Inês brincava comigo e dizia que, quando comecei a escrever, comecei a soltar os demónios literários, e eu disse: «então, já que vou soltar os demónios literários, vou fazer aqui um sintraverse, correr Portugal de norte a sul com lendas e monstros e criar aqui um imaginário para contarmos histórias».
E o que vai acontecer em termos de projetos futuros?
IG: Estamos a trabalhar num álbum de banda desenhada que vai sair em 2023, Maralto, baseado numa lenda da Nazaré. E em jeito de pitch, deixo esta pergunta no ar: o que é que o fado O Barco Negro da Amália Rodrigues tem a ver com o terror de H. P. Lovecraft? É a melhor descrição que podemos dar para o Maralto.
TC: Como eu costumo fazer poemas fúnebres para as nossas curtas, este Maralto estará também muito ligado a isso.
Já podem avançar uma data de lançamento?
TC: Se tudo correr bem, seria para lançar no Amadora BD de 2023.
IG: Vai depender daquilo que consiga fazer até lá.
GOSTASTE? PARTILHA!
Sandra Henriques
Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.