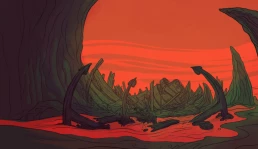Entrevista ao realizador João Alves
Depois de Bats in the Belfry, o próximo projeto de animação de terror é a longa-metragem O Baile.
«O que peca no cinema português, acima até do terror, é não haver fantasia. Sinto tanta falta de fantasia nos filmes cá. Os filmes que eu gosto de fazer são estes assim, e é remar contra a maré.»
Os nossos livros estão à venda!
«Morte e Outros Azares»
16.50 € (com IVA)«Os Melhores Contos da Fábrica do Terror – Vol. 1»
16.50 € (com IVA)Se fazer terror português já é considerado uma arte de nicho, fazer animação de terror em Portugal é o nicho dentro do nicho. Mas é precisamente nessa área que o realizador João Alves se sente mais confortável e foi, por causa dela, que o seu filme de estreia Bats in the Belfry arrecadou o prémio de melhor curta no MOTELX (em 2010) e o de melhor jovem realizador no Fantasporto (em 2011).
Depois de mais de uma década, ainda se fala do Bats pelos corredores da Fábrica do Terror (é assim quando um filme não nos sai da cabeça) e ficámos empolgados quando descobrimos o novo projeto em que João Alves (que faz parte do coletivo Cola) estava envolvido, como realizador: a adaptação da banda desenhada O Baile (de Nuno Duarte e Joana Afonso) a uma longa-metragem de animação portuguesa.
Nesta entrevista, falamos de projetos antigos e novos, da importância do reconhecimento internacional de filmes como Ice Merchants e de séries como Rabo de Peixe, e do que Alves teria feito diferente há 10 anos (se é que mudaria alguma coisa).
***
O Bats in the Belfry ganhou o MOTELX, em 2010? Uma curta de animação.
Exato. E foi a primeira vez que aconteceu. Depois, no ano seguinte, ganhou O Conto do Vento [do Cláudio Jordão], também animação.
Como foi essa sensação de teres feito uma curta de animação de terror e o filme ter ganhado o primeiro prémio?
Nem foi tanto por ser um filme de animação, foi por ser um filme de uma pessoa que não tinha ligação a uma produtora, a nada. Quando recebi o telefonema a dizer que tinha sido selecionado para o MOTELX, isso, para mim, foi a vitória. Era isso que eu queria. Quando concorri, o objetivo era ser selecionado. Tudo o que veio a seguir foi bónus. Na cerimónia de encerramento, estava naquela de «espero que ganhe alguém que eu já conheci ou que ganhe uma das curtas que eu não consegui ver». [risos] Quando disseram o meu nome, nem me apercebi. Quando me chamaram pela primeira vez, fiquei sem reação. Quando me chamaram a segunda, a minha namorada é que me disse «disseram o teu nome, vai lá!» e só aí é que me levantei e fui ao palco. Aí é que caiu a ficha. Foi mais a surpresa de alguém que não tinha nada a ver com nada e estava só a tentar fazer algo de que gostava muito, a tentar pôr o pé na indústria, a mostrar quem era e que estava interessado em fazer mais coisas.
Querias trabalhar em terror e em animação especificamente?
Sim, juntar as duas coisas.
Depois, no ano a seguir, em 2011, ganhas o prémio de melhor jovem realizador no Fantasporto. E aí já estavas preparado?
No Fantasporto, foi um bocadinho diferente. Desde pequenino que ouvia falar do festival. Para mim, era uma coisa mística, mas nunca tinha ido. E quando o filme foi selecionado, pensei: «é desta que vou aproveitar para ir ao festival». Tirei férias e, numa semana, aproveitei para ver os filmes todos que consegui.
E já voltaste ao Fantasporto depois, como realizador?
Não, porque depois estive muito tempo sem conseguir fazer nada de terror. Comecei a fazer um par de ideias, mas uma nunca passou do storyboard e as outras duas nunca passaram de guiões.
Porque não tiveste financiamento ou porque sentiste que não era um projeto que querias continuar?
Por muita coisa. No ano anterior [2009], tinha visto o Papá Wrestling, no MOTELX, e a reação do público tinha sido tremenda, por isso pensei fazer qualquer coisa [do género]. Para mim, foi uma surpresa tão grande ter ganhado o prémio [no MOTELX], de repente ser convidado para aqui e para ali, as pessoas começarem a saber quem eu era — depois do prémio no Cinanima ainda mais. Quando cheguei ao Fantasporto, a malta da realização e da banda desenhada já sabia quem eu era. Foi tudo tão de repente, toda a gente a querer conhecer-me porque estava a ganhar prémios, que comecei a planear coisas, mas, com o trabalho, não consegui dar-lhes seguimento. Se calhar, talvez por algum medo ou alguma insegurança, achei que, por ter ganhado os grandes prémios em Portugal, não podia fazer nada a seguir que fosse melhor do que isso. Esse medo também me travou um bocado.
E, infelizmente, a opinião pública nisso é muito cruel. Porque é perfeitamente normal falhar ou superares-te a seguir. Achas que foi importante, por exemplo, fenómenos como o Ice Merchants, para dar a conhecer a animação portuguesa (até aos próprios portugueses)?
Foi ótimo para as pessoas perceberem que estamos aqui, a fazer coisas há muito tempo. Mas, se não vier a aprovação lá de fora, não se dá muita importância cá. Fora dos festivais, ninguém sabe nada de animação portuguesa. Porque não há filmes, não há séries. Agora, felizmente, saiu O Natal do Bruno Aleixo (onde corealizei um segmento), Nayola, Os Demónios do Meu Avô. Saíram agora estes três filmes de seguida, mas há 16 anos que não saía uma longa-metragem de animação portuguesa, e a que saiu [na altura] era uma coprodução com Espanha. Não há essa cultura de as pessoas estarem habituadas a ver animação portuguesa, porque não há nada.
Falta-nos ter um Vasco Granja!
O Vasco Granja foi o grande responsável por eu estar aqui agora. E falta uma Rua Sésamo, que apresentava os atores nacionais e a animação nacional para as crianças pequenas. Os bonecos dos anúncios eram desenhados pelas mesmas pessoas que faziam a Rua Sésamo, e os miúdos iam fazendo essas associações. Isso perdeu-se tudo.
O que era o Tomb of Nightmares?
Isso foi uma experiência que não correu como eu queria. Novamente, veio da vontade de fazer terror e de não ter muito tempo livre. Entre projetos, porque trabalho numa empresa das 9 às 5 e faço freelance fora de horas. E, atualmente, o freelance é sempre com o [coletivo] Cola, trabalho nos projetos deles, mas sempre fora de horas. Houve uma altura em que não tinha trabalho freelance e, como estou habituado àquele ritmo, tinha de fazer qualquer coisa de terror. O que tinha era o guião para uma longa-metragem que escrevi em 2017, e que era bastante complicado de produzir e caro para primeira longa. Esse [projeto] está ali arrumado. Queria fazer qualquer coisa que não tivesse de estar a pensar em guiões, fosse pegar e fazer, e então pensei nos comics americanos, [feitos] antes do código que proibiu vampiros, lobisomens e figuras mais macabras (foi quando tiveram de se virar para gangsters e super-heróis). Há um repositório de comics online, em domínio público, e comecei a ver na secção de terror o que é que me agradava. Comecei a fazer qualquer coisa como motion comics, mas com muito pouco motion. Fazia as vozes, punha música por cima, alguns efeitos (acrescentava fumo a uma vela, um flickering a uma luz, fazia movimentos de câmara). A ideia era transformar aqueles comics antigos em conteúdo para YouTube novo de terror. E não correu muito bem. [risos]
Mas já puseste a ideia de parte? Nunca te apetece revisitar o projeto?
Não, porque as histórias são muito datadas, há muitos estereótipos típicos dos anos 50, muito racismo, misoginia. Alguns têm ideias boas, outras que já foram usadas em filmes de terror. Por exemplo, há um que faz lembrar o Child’s Play.
Ainda sentes que é complicado fazer terror português? Mesmo com, pelo menos, um festival por ano dedicado ao género?
Sinto que sim, porque, quer queiramos quer não, Portugal é um mercado muito pequeno. Pegando no exemplo de Rabo de Peixe, no Brasil, saiu com o nome Mar Branco e está dobrado em português do Brasil. Porque não funciona de outra forma, e então não conseguimos vender aquilo que fazemos para lado nenhum. Ao contrário de alguém na Inglaterra que consegue vender para os Estados Unidos, para a Austrália e para o Canadá. De uma maneira ou de outra, vamos sempre ter de procurar financiamento do ICA. Se calharmos a ter sorte, como tivemos desta vez com O Baile, conseguimos fazer coisas. No caso d’O Baile, é sobre a PIDE, o Ultramar, os pescadores, por isso está efetivamente relacionado com a cultura portuguesa. Se tivéssemos o mesmo projeto que abordasse os problemas de consciência de um personagem que normalmente seria um vilão, de ele enfrentar as memórias do que fez, mas noutro contexto, que não tivesse a PIDE nem nada disso, acho que não teria sido aprovado. Precisamos sempre do financiamento do ICA para termos os meios para fazermos coisas. E, mesmo que depois o produto final venda cá, vende cá e pouco mais. Vamos ter versões dobradas noutros países. É esquisito. Por isso é que escrevi o Bats in the Belfry em inglês. Se fazemos uma coisa, de terror, em inglês, com mais possibilidades de vender, que não tem nada a ver com a nossa realidade, o ICA dificilmente apoiará. Se fazemos uma coisa que tem a ver com a nossa realidade, o ICA apoia, nós fazemos, mas depois não conseguimos vender para fora de Portugal, o que nos impede de faturar o suficiente para deixarmos de precisar do ICA nos projetos seguintes. Para mim, o problema passa muito por aí. O que peca no cinema português, acima até do terror, é não haver fantasia. Sinto tanta falta de fantasia nos filmes cá. Os filmes que gosto de fazer são estes assim, e é remar contra a maré.
Quando estava a pesquisar terror português para a Fábrica, um dos primeiros livros de banda desenhada que li foi O Baile. Quando terminei, estava convicta de que aquela história ficava muito bem em filme. E cá estamos, a falar do desenvolvimento d’O Baile para uma longa-metragem. Como é que surge esta ideia?
A ideia para a banda desenhada partiu do Nuno Duarte, com a Joana Santos como ilustradora. A ideia do Nuno era, desde o início, fazer um filme em imagem real, mas era preciso uma localização específica, muita maquilhagem para os zombies. Na altura, ele andava a fazer investigação sobre os PIDEs para outro projeto e, quando começou a encontrar vários relatos sobre os PIDEs arrependidos, começou a achar que dava uma boa história. Fez a banda desenhada, que foi um sucesso, ganharam prémios cá e lá fora, conseguiram publicar em Itália e na Polónia. Mas o Nuno queria muito fazer um filme de animação, uma longa, e eu fui recomendado para a realização pelo Bruno [Caetano, do coletivo Cola]. Adorei o livro, começámos a planear a candidatura ao ICA, e conseguimos à segunda.
Isso foi há quanto tempo?
Uns dois anos, desde a candidatura original.
Em que fase do projeto é que estão, neste momento?
A Joana está a fazer desenvolvimento visual, está a desenhar os interiores das casas de alguns personagens, os interiores da estalagem. O Nuno desenvolveu a história de forma a irmo a sítios na aldeia que não vimos [no livro] e também a sítios em Lisboa, em vários flashbacks sobre a vida do inspetor. Vamos vê-lo ao longo da vida, até entrar para a PIDE. A Joana está a desenvolver essa parte visual toda que não existia na banda desenhada e, como eu quero realizar aquilo de forma a termos uma aldeia que podia mesmo existir, a Joana está não só a reestruturar o aspeto das casas, mas a definir o visual de cada parte da aldeia. Do meu lado, estou a fazer o animatic. Normalmente, faz-se o storyboard primeiro e, depois, faz-se o animatic do storyboard, mas eu decidi fazer ao contrário. Sei, por experiência em outros projetos, que, se for uma sequência de ação, não tenho tanto a noção dos timings das coisas só com o storyboard. Por isso, prefiro fazer primeiro o animatic, um 3D muito simples. Quando esse animatic estiver fechado, passo para a Joana fazer um storyboard todo bonito.
Não estamos a dar spoiler de nada, pois não? As pessoas já sabem que o filme vai existir?
O que ganhámos foi o apoio ao desenvolvimento. Ainda não é o apoio à produção. O Nuno, neste momento, concluiu uma segunda versão do guião, com coisas novas que não estavam na BD e que reforçam o elemento fulcral do drama do inspetor Rui. Como o apoio do ICA foi ao desenvolvimento com piloto, que é a linguagem das séries, temos de entregar como se fosse uma fatia da versão final. A ideia do Bruno [Caetano] foi pegarmos nesse excerto que temos de fazer e transformá-lo num trailer ou numa curta-metragem, para com isso podermos ir procurar financiamentos ou parcerias para a produção.
Quem não trabalha na área, não tem noção do tempo que estes projetos demoram. E eu espero que essa dedicação dê frutos.
Demoram não só por todo o trabalho que dá planear tudo, mas também porque nós os quatro não estamos a fazer só isto.
Se tivesses de dizer uma coisa ao João Alves de há dez anos, o que é que seria?
Antes ou depois de lançar o Bats in the Belfry? [risos] «Termina o que começas» é um conselho importante. Tenho ali duas curtas que estão em storyboard, que não foram para lado nenhum e que, se calhar, tinham mudado tudo. Por isso, terminar as coisas é super importante. E é importante vermos o que os outros fizeram para chegar onde chegaram, mas isso não é o nosso caminho. E, quando os resultados começarem a ser diferentes do que aquilo que estávamos à espera, é roll with the punches. Se é por aqui, é por aqui, e vamos tentar resolver as coisas por esse caminho, não estar presos ao «ter de ser assim».
No final de junho, passaste pelo programa de mentoria da NAFF Fantastic Film School (FFS), no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bucheon. Foste um dos 30 selecionados entre mais de 100 candidatos de 21 países. Como foi essa experiência?
A experiência foi, como o nome do curso deixava adivinhar, fantástica! O festival é gigantesco. Os eventos espalham-se por vários espaços em Bucheon, que ficam a cerca de 20 minutos uns dos outros. Se no Art Bunker B39 há uma exposição interativa de Realidade Virtual e Aumentada, na Câmara Municipal estão a passar os filmes a concurso, e no Museu de Manhwa há uma masterclass a decorrer. E isto é a parte para o público geral, porque em paralelo existe o Bifan Industry Gathering (BIG), no qual a FFS está englobada. É o lado profissional, onde realizadores e produtores têm reuniões em busca de coprodução, onde falamos com distribuidores e sales agents para saber como anda o mercado, o que vende, o que cada país e plataforma procura e onde ficamos a saber as condições de produção e coprodução em cada país. E são muitas. Diria que, mais do que todas estas oportunidades e aprendizagens na parte profissional, a parte pessoal foi incrível. Estamos muito longe da Ásia, os voos são caros, as notícias raramente mencionam aquela zona do globo. Só pensamos naquelas bandas como destinos de férias ou nem isso. Eu sentia um desconhecimento muito grande antes de ir, mas só quando lá cheguei e conheci os meus colegas é que percebi a dimensão da minha ignorância face à Ásia. Pensar naqueles países todos como sítios onde podemos trabalhar, onde agora tenho amigos, e não pensar apenas como turista é completamente diferente. Tive sorte de ter colegas super talentosos, todos a trabalhar em [cinema de] género e com provas dadas de que sabem o que estão a fazer. Alguns trabalharam em longas, outros em curtas, todos profissionais e com uma garra do caraças para fazerem as suas coisas, passarem as suas mensagens. Alguns vivem em regimes de ditadura, outros são de uma etnia que não é a do governo eleito no país e são tratados como cidadãos de segunda, e mesmo assim fazem coisas — e coisas espetaculares. Confesso que, depois de conhecer a minha turma da FFS, dei por mim a pensar: «se esta malta, com estas dificuldades todas no caminho, consegue fazer filmes fantásticos, de terror e ficção-científica, porque raio é que eu não fiz?». E não só eu. [Como te disse, acho que] falta fantasia no cinema português. E é aí que entra O Baile, um filme de terror com elementos sobrenaturais numa aldeola piscatória portuguesa. Consegui falar a várias pessoas do projeto, mostrar a BD, de como tínhamos conseguido apoio para desenvolvimento do ICA, e isso deu para virar algumas cabeças. As pessoas ficaram interessadas, quiseram ver e saber mais sobre o projeto, acharam uma ótima ideia e, acima de tudo, muito original, não só o tema como a abordagem. O que é óptimo. E já planta lá a semente para que, da próxima vez, se lembrem de que já ouviram falar nisto e de que o projeto está a andar. Agora, é trabalhar para levar O Baile para a frente e chegar aos ecrãs. Toda a experiência do BIFAN foi altamente enriquecedora e motivadora. As aulas foram porreiras, a turma foi espetacular, e são amigos que fiz para a vida e que espero voltar a ver na próxima ida ao BIFAN, porque tenho de lá voltar. Desta vez, não para ter aulas, mas para fazer pitch e arranjar parcerias.
GOSTASTE? PARTILHA!
Sandra Henriques
Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.