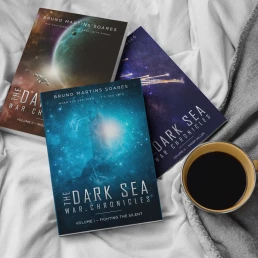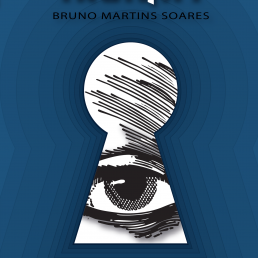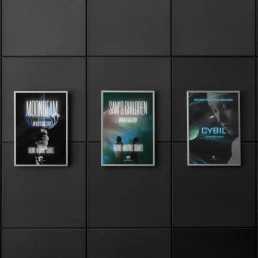Entrevista ao escritor Bruno Martins Soares
Conversámos com o autor de Insight (2022) sobre escrita criativa, cinema e os desafios de publicar.
«Se estás a trabalhar fantasia ou terror, é tudo sobre pessoas. O comum a isso tudo é: como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas gerem os seus monstros, como é que as pessoas gerem os seus dilemas.»
Os nossos livros estão à venda!
«Morte e Outros Azares»
16.50 € (com IVA)«Os Melhores Contos da Fábrica do Terror – Vol. 1»
16.50 € (com IVA)Quando dois autores se sentam para falar de livros e de escrita, é inevitável que a conversa acabe por ir parar aos desafios de publicar ficção especulativa em Portugal. Bruno Martins Soares, que em 2022 publicou o seu primeiro livro de terror, Insight, já teve experiências com editoras tradicionais e self-publishing. É nesta última que encontra mais vantagens e nesta entrevista, entre outros temas, explica porquê.
***
Já foste jornalista, produtor, escritor em vários géneros, já escreveste guiões para cinema e televisão, és podcaster, dás formação. O que é que ainda não fizeste?
Ainda não fui astronauta! [risos] Já fui muita coisa. Costumo dizer que tenho daqueles currículos à Kerouac. [risos]
E, no meio disso tudo, como é que arranjas tempo para escrever?
Boa pergunta! [risos] Tudo isto foi em alturas diferentes da minha vida, obviamente. Reinventei-me muitas vezes. Tenho essa capacidade e essa maldição, estou sempre à procura de oportunidades. A certa altura, esta diversidade do meu currículo passou a ser uma maldição também, porque as pessoas achavam que eu não parava em lado nenhum e não me levavam muito a sério. Mas já fiz muita coisa, de facto, e para mim são tudo coisas correlacionadas. É tudo sobre pessoas. Quer estejas a trabalhar em marketing, ou recursos humanos, ou comunicação, é tudo a mesma coisa. [Na escrita], se estás a trabalhar fantasia ou terror, é tudo sobre pessoas. O comum a isso tudo é: como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas gerem os seus monstros, como é que as pessoas gerem os seus dilemas.
Escreves sempre em inglês, primeiro?
Hoje em dia, sim, dependendo daquilo que estou a fazer. Quando escrevo para a BANG!, escrevo em português, como é óbvio. Acho que o mercado português é minúsculo.
Achas que não temos espaço para crescer?
Podíamos [crescer], mas o mercado está muito viciado, muito mal desenvolvido, muito mal trabalhado. De vez em quando, temos uns sucessos que as pessoas não sabem como é que apareceram. Apareceram porque tocaram num nervo do mercado.
O que é que achas que falha?
Falta o marketing. Hoje em dia, no mundo editorial moderno, a única vantagem que as editoras têm sobre o resto do mercado, digamos assim, é o marketing, é a capacidade de colocar os livros em mais sítios e fazer mais promoção. As editoras portuguesas não percebem isso. E as estrangeiras também, só que essas têm outro clout. O meio do self-publishing é completamente diferente do tradicional, não tem nada a ver. Os instrumentos são diferentes, a maneira de lidar com o público é diferente, a maneira de trabalhar é diferente. [Acha-se] que as editoras [tradicionais] é que têm os bons autores e que sabem distribuir; isso não é verdade. As editoras continuam iludidas, ao achar que a vantagem delas é fazer estas coisas todas, e não é. Temos um fandom na ficção especulativa muito ativo, mas muito pequeno em Portugal, e, portanto, ou somos ignorados, e não se trabalha ficção especulativa, ou ouvem-nos, mas fazem edições de 100 exemplares. E isto é muito pouco.
Tu começaste por fazer self-publishing?
Não, eu comecei por ser editado pela Saída de Emergência, com a saga Alex 9. Só que percebi claramente que aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu queria escrever não tinham garantias nenhumas de ser publicado. Não tinha controlo nenhum sobre a minha carreira e, mesmo assim, quando publicava em Portugal, ganhava muitíssimo pouco dinheiro. E, um dia, quero estar a ganhar muito dinheiro, mas só pode ser no mercado internacional, não pode ser no mercado português. Ainda não sei fazer isso, mas uma certeza que tinha era a de que, no mercado português, nunca seria possível.
Nem os grandes nomes conseguem! Têm outras atividades paralelas, dão aulas, escrevem colunas…
Nós tivemos a autora de Viúva de Ferro, a Xiran Jay Zhao, no BANGCAST durante a Comic Con de 2022 — gostei muito dela, muito nova, muito dinâmica — e perguntei-lhe se, hoje em dia, era preciso um escritor vingar nas redes sociais e ela dizia «infelizmente, acho que sim, mas acho que não devia; o escritor devia simplesmente saber escrever, mas não é esse o mundo em que vivemos». E eu estou a tentar trabalhar as redes sociais, mas muito a contragosto, porque detesto redes sociais. [risos] Mas não há alternativa. Num dos grupos de autores de que faço parte, [alguém dizia que tinha conseguido] falar com um agente (porque, no mercado anglo-saxónico, é necessário teres um agente) e que, para alguma editora ter interesse [no trabalho dele], ele tinha de ter dez mil fãs no Instagram. Ao que eu digo: «se tens dez mil fãs no Instagram, porque é que precisas de um agente?». Se fizeres as coisas por ti… Não é difícil fazer uma capa. Não é difícil fazer a paginação…
Isso que estás a dizer é importante. Acho que as pessoas pensam que fazer um livro é muito dispendioso e que vai demorar imenso tempo.
Não é. Eu trabalho com uma designer austríaca e uma capa para um romance, para um livro, custa menos de 30 €.
E é teu, original, não vai ser confundido com outras obras.
Não, ela tem um bom esquema, tem as coisas planeadas daquela forma. Aquilo que eu acho caro, de facto, é a edição. Quando é bem feita, é cara. Já comprei uma edição de 100 € que foi um horror e já comprei uma edição de uma canadiana, que me custou caro, mas ficou bem feita e foi uma das melhores experiências com edição que já tive. Ela explicou-me o processo e, em cada etapa, fazíamos o ponto de situação. Mais do que isso, percebeu a minha escrita. Porque eu quebro certas regras, e ela adaptou-se e explicou quando é que se podia quebrar a regra e quando é que isso não era possível. Isto foi para o Laura and the Shadow King. Na altura, custou-me cerca de 700 €. Nunca recuperei [esse investimento]. Hoje em dia, já faço de outra maneira, porque há outras ferramentas mais desenvolvidas.
Mas não é a mesma coisa. Quando tens, do outro lado, um profissional com quem podes discutir a edição.
Sim, não fica tão bem feito. Mas tens de pensar, de facto, no que é essencial. Se fosse tudo como eu queria, se calhar comprava uma capa de 150 € e um pacote de edição de 800 €. Um dia, vou fazer isso, mas atualmente não é possível.
Um dia, vais montar a tua própria editora!
Talvez. Eu tenho a minha marca. Não ponho isso de parte. Quando tiver a certeza de que sei o que estou a fazer, que os meus livros estão a vender bem, aí, sim, saberei que posso ajudar as pessoas. Até lá, acho que não vale a pena.
Mas o mercado para a ficção especulativa em Portugal é, de facto, muito pequeno.
E está tão mal trabalhado que [os leitores do género] preferem ler em inglês.
Mas eu também tinha esse hábito, até porque nem sabia que havia terror em português!
Tu, uma leitora do género, não sabes que há terror em Portugal? A culpa é dos autores? Não é. E eu já disse isso a editores, eles sabem que eu penso desta forma. Tens editoras que estão a começar a abrir os olhos, mas, para mim, já o deviam ter feito há dez anos. A certa altura, quem abriu o mercado foi a Saída de Emergência, e eu devo-lhes muito, porque foi um risco apostarem em mim. Só mais tarde é que a Divergência também apostou. Acho que as editoras podiam apostar em novos autores de vez em quando, como a Saída de Emergência fez na altura. Ainda existe um preconceito enorme relativamente à fantasia, relativamente à ficção especulativa em geral.
A tua biografia, no teu site, é muito honesta, porque tu falas dos sucessos e do que correu menos bem ao longo do teu percurso. Podias ter omitido o lado «menos bom», mas não o fizeste.
Cada vez menos tenho pachorra para palhaçadas. [risos] Eu sou quem sou! Já fiz muita coisa, muitas delas arrependo-me de as ter feito. Outras, na altura, achei que foram um erro e depois levaram a outros projetos que correram bem. Acho que passamos todos por isso e, a certo ponto, deixei de ter pachorra para mostrar o que não sou.
Falas disso nas tuas oficinas de escrita criativa?
Sim, nas oficinas de ficção especulativa, falo sempre disso, nunca deixo as aulas só para a escrita. Acho que isso também é importante, acho que [as rejeições] desencorajam muita gente. Escrever, hoje em dia, é fácil. Publicar é fácil. Mas vender é difícil, fazer com que as pessoas leiam é difícil. E as pessoas não têm essa noção. Já dei formação de escrita de ficção especulativa e de escrita de argumento e há muita coisa que as pessoas não sabem. Há muita coisa que aprendi por mim — e quem me dera que mo tivessem dito mais cedo. Tento falar nisso e expor essas questões, porque, quando comecei a ler livros sobre escrita criativa, eram todos muito maus. E digo isto abertamente. Só quando comecei a ler sobre escrita de cinema é que comecei a ler coisas que valiam a pena. Aquilo que havia de escrita criativa para romance era muito pobre. Não sei se ainda é, mas na altura era. Depois, parecia que havia duas escolas: a europeia, que defendia que «isto não se aprende», e a americana, que defendia que «isto se aprende» [se seguires um modelo rígido]. E eu não me revia em nenhuma delas. Só quando fiz um argumento para um filme, que falhou porque não estava estruturalmente sólido, e quando comecei a trabalhar a escrita para cinema, é que comecei a perceber o que tinha de saber para que as coisas funcionassem. Comecei a ler Robert McKee, Blake Snyder.
Trabalhas com agentes no mercado anglo-saxónico?
Não. Sou publicado de forma tradicional em Portugal, mas sou self-published no estrangeiro. Lá fora, tens mesmo de ter agente, é um filtro que existe. Se trabalhares com uma editora independente, podes não ter agente. Tens uns quantos caminhos possíveis. Tens o caminho, mais ou menos ultrapassado, de publicares contos nas revistas. Depois, tens o caminho dos agentes, aos quais chegas pelos festivais, pelos prémios, por conheceres pessoalmente, por referências. Acho que podes ir diretamente a uma editora independente, mas, no geral, tens de recorrer a um agente. E não é fácil, é outro caminho difícil que implica muita rejeição. E depois tens o self-publishing, fácil de publicar, mas difícil de vender. Há uns anos, ainda conseguias fazer publicidade com pouco dinheiro, mas, hoje, não.
Tu vês-te a escrever noutros géneros, fora da ficção especulativa?
Já escrevi noutros géneros. Comecei pela literatura realista. Ganhei o Concurso Nacional de Jovens Criadores [em 1996] com literatura realista. O primeiro livro de ficção científica que escrevi foi o Alex 9. O primeiro volume foi publicado em 2009.
Voltarias a esse registo, à literatura realista?
Sim, completamente. Não é aquilo que mais me apetece fazer. Aliás, tenho um work in progress de literatura realista que estou a escrever, gosto e quero imenso fazer. Vai demorar um pouco, mas isso é um problema que tens no self-publishing. Fazes um livro todos os meses e estás a sacrificar uma série de coisas, mas, quantos mais livros lançares, mais probabilidade tens de ganhar dinheiro com isso. O meu maior problema é o meu portefólio ser demasiado diversificado. Tenho uma space opera, depois tenho um pós-apocalíptico zombie, depois tenho um de terror. Ainda não tenho um portefólio preparado para as pessoas que queiram ler livros [meus] uns atrás dos outros. E esse é um dos meus pontos fracos neste momento. Mesmo assim, posso dizer que sou muito mais lido lá fora do que sou cá dentro. O problema do mercado português, e eu já falava disto antes de haver a concentração de editoras [que há agora], é teres milhares de livros a serem editados quando a maioria dos portugueses lê um livro por ano, no máximo. Tens livros sempre a sair. Estão 15 dias na secção das novidades e depois desaparecem, o que significa que as editoras têm de editar mais livros se querem vender alguma coisa. Isto é um círculo vicioso. Tens um mercado que lê muito pouco. Investimos imenso em ensinar inglês aos miúdos, mas investimos muito pouco em dar-lhes leitura, digamos assim. Sabemos que a principal coisa que uma criança precisa para começar a ler é ter um adulto que também leia, e não o temos. Ninguém se preocupa muito que as crianças leiam e, quando se preocupam, é para pô-las a ler Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco e Camões. Porque é obrigatório. Não é porque é bom ou divertido ou bom para eles. E vais fechando portas.
O Insight, dizias-me, começou como um argumento?
O cinema sempre foi a minha paixão, mas nunca pensei fazer cinema na vida. Sempre foi a minha escola, sempre gostei mais de ver filmes do que ler livros. E estamos a falar de uma altura em que os filmes não eram alternativa aos livros, complementavam-se. Eu cresci na Madeira e, na altura, só tínhamos televisão a partir das 7 da noite, por isso o livro não era uma alternativa ao cinema ou à televisão. Eram complementares. Fiz alguns argumentos, fiz uma curta e uma longa. Fiz formação com a ETIC, com pessoas que vinham de fora e que me abriram os olhos para algumas coisas, mas depois nunca mais pensei nisso até 2010, quando um amigo meu, o Nuno Madeira Rodrigues, que é realizador, me desafiou para adaptar uma história que ele já tinha para um argumento em inglês. Pensei que fosse mais um argumento para a gaveta, que já tinha feito anteriormente, mas desta vez este filme seria produzido. E fizemos o Regret. Foi filmado em 2011, rodado em Oliveira de Azeméis e em Brooklyn, NY, com atores americanos e ingleses e um ou outro português. Foi uma experiência fantástica, mas também foi uma das coisas mais dolorosas e difíceis que fiz na vida. Muito complicado, mas aprendi muita coisa. O Nuno costuma dizer que o argumento era melhor do que o filme. Eu acho que sim, mas também acho que não. Porque um dos problemas era, de facto, o guião. Era tão intrincado e com volte-faces que, se no momento não tens dinheiro e tens de cortar uma cena, fica tudo mais críptico. Isso foi uma das coisas que comecei a pensar e a fazer e, desde aí, tenho tendência a escrever histórias que são muito mais simples, tanto para cinema como em livros, em que eu sei que, se tirar uma cena ou outra, consigo fazer a história na mesma. Sinto que a execução é muito importante. Dizia-te há pouco, quando falávamos da edição, que a minha escrita é um bocadinho diferente. Para mim, o essencial é o ritmo em tudo aquilo que escrevo, o ritmo é que te dá a emoção. O medo pode ser paralisante e parar tudo, ou pode ser altamente ansiogénico e, de repente, está tudo muito rápido. Tudo isto é feito na página, tem de estar tudo lá. E isso, para mim, faz-se a partir das pausas, do tamanho das frases, das vírgulas. Por isso é que digo que um dos problemas que a minha editora canadiana tinha era as vírgulas, porque eu não as tenho nos sítios certos. Não vou pôr vírgulas no meio de uma ação, quando quero que as pessoas não parem de ler. Eu quero é que a pessoa leia aos trambolhões. Toda a minha escrita funciona com base no ritmo.
Não sei se faz sentido aquilo que te vou dizer, mas tu tens uma escrita muito «limpa». As histórias não têm de ser sempre complicadas ou floreadas e, nas partes que têm de ser, tu também fazes com que isso aconteça.
Em termos estruturais, todos os meus romances têm um ritmo controlado. O Alex 9, por exemplo, é cliffhanger atrás de cliffhanger, a sensação é de rush. É um livro épico com 150 personagens. Já n’ A Batalha da Escuridão, cada capítulo é praticamente um conto, é montado dessa forma. Na realidade, estava a tentar fazer um livro só com contos, crónicas. Cada capítulo vale quase por si só, mas tem um ritmo próprio, lento até deixar de ser, segue essa lógica. Depois, no Laura e o Rei das Sombras, também funciona com cruzamento de histórias em paralelo. Também tens isso no Alex 9, mas com seis ou sete storylines de cada vez, por isso a sensação é de avalanche. No Insight, o ritmo é muito escorreito, é muito limpo. Tem a ver com o facto de ter vindo do guião. Eu escrevi-o para cinema, em inglês, nunca o vendi. [Em termos de ritmo], está sempre alguma coisa a acontecer.
Sentes a angústia enquanto estás a ler! E tu vês o Insight transformado em série ou em filme, sendo que ele já existe em guião?
Acho que série, não, porque não tens espaço e história para esticar, para «encher chouriços». Acho que podes fazer uma série do Batalha ou do Laura, mas do Insight não. Eu faço muito cross-channel. Às vezes, tenho um conto e decido transformá-lo num script ou num romance, mas a adaptação não é simples, e esta história é muito específica, está muito controlada. Tens ali um midpoint muito preciso e isso, para mim, é cada vez mais importante, o momento da história, do filme, a partir do qual a história passa a ser completamente diferente. E aqui o midpoint foi cronometrado quase ao milímetro. Ao usar os instrumentos para o cinema, eu sei que o midpoint tem um ponto preciso e fui limpando até chegar ao ponto ideal. Depois, manter o ritmo é o desafio. Para mim, como o ritmo é tão importante, ele é trabalhado ao nível da estrutura, ao nível de frase, da pontuação, do tamanho dos capítulos.
És muito crítico contigo próprio quando estás a escrever?
Não, acho que não. Sei que não sou o melhor escritor do mundo, faço o que gosto. [As histórias] são perfeitas? Não são. Para a próxima, vou fazer melhor, porque a pior coisa é não escrever. E, quanto mais perfeccionistas somos, pior é, porque nunca mais tiramos nada da gaveta. Acho que sou relativamente realista, penso nas coisas como se fosse um leitor. Tento fazer isso quando estou a escrever, mas, por vezes, só consigo a posteriori.
Mas nunca da perspetiva de se o leitor vai ou não gostar?
Às vezes, acontece, mas não dou muita importância a isso. Uns vão gostar e outros não.
Lês as reviews dos teus livros?
Leio, sim. Não gosto de algumas, mas não me chateio. Isso é uma das primeiras coisas que digo na formação de escrita criativa: o escritor tem de saber receber feedback. Não é responsabilidade da pessoa que está a dar feedback saber fazê-lo. É da responsabilidade do escritor saber ouvir. O Neil Gaiman tem uma citação brutal em relação a isto, em que diz qualquer coisa do género: «as pessoas sabem sempre quando há alguma coisa errada, mas muito raramente sabem o que é que está de facto errado». Se nós soubermos ouvir, conseguimos tirar alguma coisa útil dali e conseguimos perceber que a pessoa está a dizer isto, mas o que quer dizer é aquilo. Por exemplo, uma pessoa pode achar que determinado capítulo é demasiado chato. Tens de interpretar isso como: aquele capítulo tem de estar ali porque precisavas de dar o background à personagem, mas não foi suficientemente eficiente, não te explicaste suficientemente bem. Tens de estar a fazer este trabalho de aprendizagem constante.
E, em self-publishing, as reviews são importantes porque afetam vendas, o algoritmo.
Aí, são absolutamente essenciais. É um dos teus critérios de sucesso. Porque as vendas vão depender de duas coisas: dos ratings e das reviews. Só assim é que vendes. Claramente, o Fighting the Silent é o meu livro mais lido, já foram distribuídos milhares de exemplares, e está há quatro anos no top 100 de space opera da Amazon.
Pensas que é também por ser um género muito particular?
Também é, e porque está como gratuito de forma permanente. Funciona como uma porta de entrada. E eu tenho de o trabalhar. Foi o livro que publiquei há mais tempo e tem de ser trabalhado, a edição tem de estar melhor e há erros. Acho que isso prejudica as pessoas quererem comprar os outros depois de lerem este primeiro, é algo que tenho de resolver. O meu best-seller, comparado com este, é o Mission in the Dark, o segundo volume de The Dark Sea War Chronicles, e é o livro que mais dinheiro me deu até hoje.
Mas ainda bem que falas de dinheiro associado aos livros, de sucesso de vendas. Parece ainda haver muito receio de se falar de livros desta perspetiva de negócio.
[Por um lado], percebo. Estamos a falar de mercados tão pequenos que parece sempre que estamos a falhar, que não estamos a ter sucesso. Não, já fui lido por centenas, por milhares de pessoas em todo o mundo. O meu melhor mercado é o americano. Estou a ganhar muito dinheiro? Não, não estou. Neste momento, depois de duas alterações aos algoritmos da Amazon, estou a ganhar bastante pouco. E não é só isso. Tenho estes dois problemas no meu portefólio: é muito diversificado e ainda é pequeno. Só consegues começar a fazer algum dinheiro a partir dos 25 ou 26 livros. E eu escrevo devagar. Escrevo um ou dois romances por ano. É pouco para este tipo de mercado. Mas também acho que o mercado evolui muito depressa. A cada seis meses, está muito diferente, e acho que mesmo o self-publishing, que tem vivido da quantidade, vai, pouco a pouco, começar a ser seletivo e ganhar outro tipo de espaço.
Sentes que os portugueses, autores e leitores, ainda acham que o self-publishing não é prestigiante o suficiente?
Sim. Acho que isso, lá fora, está diferente, basta ver o que fez o [Brandon] Sanderson. A grande vantagem competitiva que as editoras têm é o marketing. Se não fizerem marketing como deve ser, têm o que fez o Sanderson, que saiu da editora, fez um crowdfunding com três livros que ainda não estão escritos e, em coisa de meses, tem quarenta milhões de dólares na conta. Se o Stephen King e a J. K. Rowling começarem a fazer isso, esqueçam lá as editoras. Espero que, um dia, elas acordem e comecem a perceber. Têm a mania de apostar em livros quando têm é de apostar em autores. Isto é um dos problemas mais graves que temos em Portugal: os escritores só vão escrever mesmo bem se escreverem, escreverem, escreverem e publicarem, se tiverem oportunidades. Se não tiverem oportunidades, ficam só os iniciantes. As editoras não têm uma linha de e-books, por exemplo. Acham que não funcionam em Portugal. Mas [isso é] porque estão a apostar em livros, em vez de estarem a apostar em autores. Há autores que, de facto, ainda não estão preparados para ter um livro na rua. Não vão vender e depois nunca mais vão publicar nada, porque ficam com esse estigma. Um e-book não custa nada, não ocupa espaço.
Em que é que estás a trabalhar agora? O que é que se segue?
Neste momento, estou a acabar o primeiro volume da sequela do Dark Sea War Chronicles, que se chama The Outer Sea War Chronicles. Se o primeiro foi uma espécie de batalha do Atlântico da Segunda Guerra Mundial no espaço, este é uma espécie de batalha do Pacífico no espaço. Queria fazer uma trilogia, mas acho que está a mostrar-se ser uma tetralogia. Tenho a saga Alex 9 a sair em seis volumes, e que a Ana Carrilho está a traduzir para inglês. Espero — num ano, ano e meio — ter todos estes livros cá fora. Estou, ao mesmo tempo, a trabalhar no work in progress que é literatura mais realista. Tenho alguns projetos para cinema e televisão, em que estou a trabalhar com várias produtoras, e dos quais ainda não quero adiantar muito.
E vais voltar a escrever terror?
Nunca tinha pensado escrever terror quando escrevi o Insight. É um género que me apela cada vez mais, mas nunca pensei escrever dentro dele. Se calhar, mais depressa escrevo terror para audiovisuais do que em livro. Mas lá está, se o script for bom, se calhar transforma-se num livro. O livro tem a vantagem de eu poder controlar quando é que sai. A maioria dos scripts nunca vão ver a luz do dia. Tenho vários argumentos feitos para longas-metragens e curtas, gostava imenso de os produzir, mas tenho muito pouco controlo sobre o que vai acontecer. E o controlo é muito importante, senão a tua carreira morre. Se eu só publicasse tradicionalmente, não havia nada meu cá fora.
GOSTASTE? PARTILHA!
Sandra Henriques
Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.